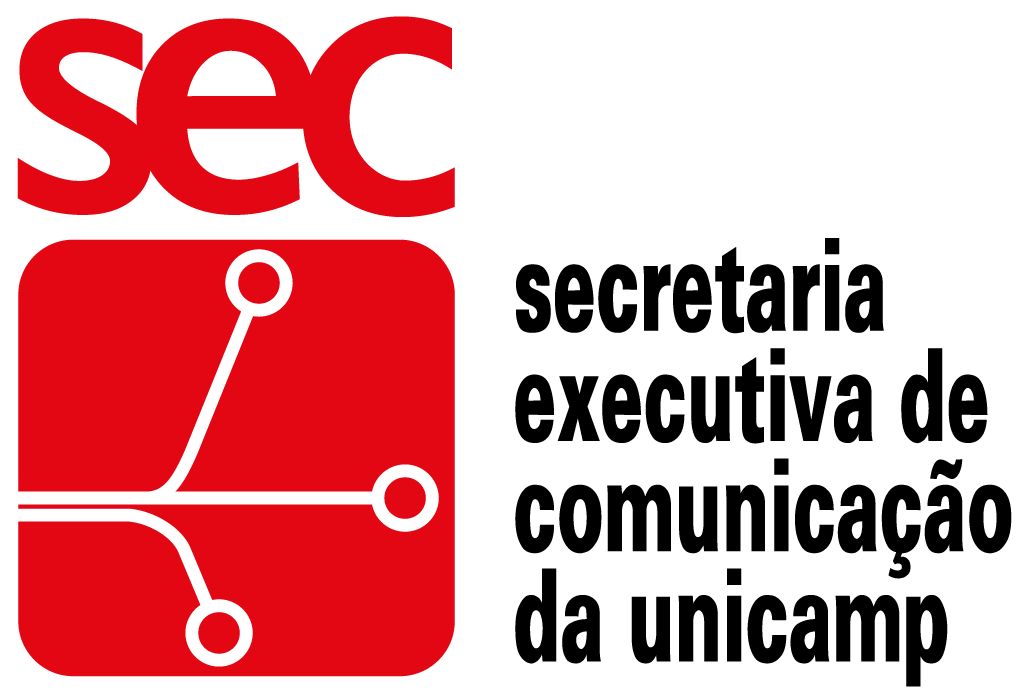A ciência é uma forma e uma instituição de conhecimento, paráfrase de uma frase do historiador Peter Burke em seu livro O que é história do conhecimento?, que discutimos em aula no último semestre com uma turma bem animada. Burke, no trecho parafraseado, fala de formas e instituições de conhecimentos encontrados em uma determinada cultura. Conhecimentos no plural, em vez de ciência no singular. No entanto o plural do historiador é limitado por “principais”, sendo que ciência disputa o topo do pódio. Isso em um caldeirão (a cultura e os valores associados a ela) que constitui um sistema com escolas, universidades, laboratórios, museus, imprensa e por aí vai. As conexões entres essas diferentes partes do sistema nem sempre são bem percebidas, mas elas formam o que Burke chamou de “ordem de conhecimento”.
A ordem de conhecimento da ciência é – depois de alguns séculos de contínuas institucionalização, profissionalização e disciplinarização – bastante rígida na sua fronteira de legitimação para quem pode falar de e, principalmente, fazer ciência. Essa rigidez, claro, não é exclusiva da ciência, mas é nela que podemos perceber, se quisermos, diversos embates. Um deles é sobre a localização do conhecimento científico (sim, um elétron é igual em qualquer laboratório ou parte do universo, mas o conhecimento sobre ele é gerado em contextos locais, os laboratórios. Além disso, a ciência também se preocupa com fenômenos que são desiguais). Outro é sobre a exclusão e invisibilização de seus atores e atrizes nesse sistema ou ordem. Como é o caso das mulheres na ciência, cujo papel relevante só passou a despertar mais a atenção bem recentemente. A rigidez da ciência não se resume à questão de gênero, mas comecemos por ela para perceber outras conexões normalmente esquecidas. Sem espaço e, principalmente, domínio para discutir todas as conexões na ordem de conhecimento que é a ciência, podemos nos valer de micro-histórias, pequenos verbetes isolados que, por fim, se conectam.
Em buscas um pouco ao acaso encontro primeiro a pequena Caroline Herschel (1750-1848), música e astrônoma como seu irmão Wilhelm. Pequena porque seu crescimento foi seriamente comprometido pelo tifo, que a acometeu na infância na Alemanha. A mãe a queria então como serviçal doméstica, mas o pai músico sugeriu outro caminho. Aprendeu a tocar violino. Com a morte do pai, juntou-se aos irmãos Wilhelm e Alexander, que haviam se mudado para a Inglaterra, apesar da resistência da mãe. Iniciou uma carreira na música, junto com Wilhelm. Este passou a se interessar por astronomia e aos poucos deixou de ser músico para virar um astrônomo famoso. Caroline seguiu seus passos também como autodidata. Descobriram juntos cometas e nebulosas que não constavam dos catálogos da época. Ela começou a registrar suas observações em 1782 e menos de um ano depois fez sua primeira descoberta independente. Uma nebulosa.
A história toda é rica, com disputas de quem recebia reconhecimento maior, ela ou seu irmão. De qualquer modo, foi a primeira mulher a ter um cargo público na Inglaterra e a primeira mulher a ser paga por seu trabalho em astronomia. Isso em 1778. Recebeu em 1828 a medalha de ouro da Sociedade Astronômica Real, para a qual foi eleita como membro em 1835. Recebeu outras honrarias em vida e um asteroide descoberto em 1888 leva seu nome do meio, Lucretia. Caroline foi reconhecida em vida, ainda que mais como assistente do irmão e não como protagonista, e era paga para fazer ciência em um século em que essa atividade estava longe de ser profissionalizada.
Alguns anos antes da medalha para Caroline Herschel, nascia Eunice Newton (1819-1888), nos Estados Unidos. Não era um sobrenome qualquer. Eunice era mesmo parente distante de Isaac Newton. Ao contrário da astrônoma alemã, Eunice teve alguma educação formal em ciências, ainda que sem obter nenhum título. Dos 17 aos 19 anos estudou no Seminário Feminino Troy, o que permitia cursar disciplinas de ciências na vizinha Renseelear School. Foi ativista política e casou-se com o advogado Elisha Foote, especialista em patentes. Eunice Newton Foote construiu um laboratório em sua casa, onde se tornou a primeira pessoa a confirmar que certos gases expostos à luz do sol se aqueciam mais que outros e que o aumento dos níveis de dióxido de carbono poderia elevar a temperatura da atmosfera, afetando o clima, o fenômeno que conhecemos hoje como efeito estufa. Escreveu um artigo sobre isso, apresentado em 1856 na reunião da Associação Americana para o Progresso da Ciência: foi o primeiro artigo científico publicado por uma mulher nos Estados Unidos.
O trabalho dela repercutiu na época, sendo inclusive descrito e elogiado em uma coluna na edição de 13 de setembro de 1856 da Scientific American.[i] Quem, no entanto, levou os créditos pela descoberta do efeito estufa, alguns anos depois, foi o físico britânico John Tyndall. Se ele conhecia ou não o trabalho de Foote ainda é controverso, mas a cientista americana acabou na obscuridade. As razões citadas para isso são várias: era mulher, cientista amadora, que em seus artigos não fazia referências a outros cientistas, e os Estados Unidos eram cientificamente periféricos na época. Aparecem assim nessa história outros embates, além da questão de gênero: quem está legitimado a fazer ciência e a tensão entre periferia e metrópole. Esses e outros embates continuam, mas pelo menos a importância e o pioneirismo de Eunice Newton Foote foram reconhecidos, passado mais de um século.
Na época em que se começou a discutir o efeito estufa, nascia na Alemanha Agnes Pockels (1862-1935). Agnes foi uma química autodidata, gostava de ciências desde cedo, mas na época mulheres não podiam frequentar universidades na Alemanha. Seu irmão, físico, compartilhava livros acadêmicos e artigos aos quais tinha acesso. Portanto nunca estudou formalmente sua ciência do coração, nem assumiu alguma função acadêmica: era o que hoje chamamos de cientista cidadã. Sua grande contribuição foi no estabelecimento da ciência de superfícies, estudando superfícies de líquidos e sólidos e suas interfaces. Seu interesse pelo tema, que ela transformou em ciência, surgiu lavando louça em casa, observando como o sabão se comportava, nas bolhas e sobre a superfície da água na pia. Como ela atravessou a fronteira da ordem do conhecimento da ciência? Em 1891, dez anos após suas primeiras medidas sobre tensão superficial, inteirou-se de que o renomado físico inglês Lord Rayleigh trabalhava em coisas parecidas. Encorajada pelo irmão, Agnes escreveu ao eminente cientista.
A carta era em alemão e começava assim: “Meu senhor, poderia gentilmente perdoar a minha ousadia de lhe importunar com uma carta em alemão sobre um assunto científico?”. A esposa do lorde a traduziu para o marido. Lord Rayleigh não se incomodou em levar a sério o que escrevia uma modesta química amadora e levou o trabalho ao editor da revista Nature. Assim surgia o primeiro artigo científico de Agnes Pockels. A dona de casa alemã recorreu primeiro aos cientistas da Universidade de Göttingen, mas esses torceram o nariz. Ela, por fim, publicou ao todo 14 artigos científicos e acabou sendo reconhecida, sendo a primeira mulher na Alemanha a receber o título de Doutora Honoris Causa.

Outros detalhes, talvez mais interessantes, completando as histórias dessas personagens podem ser encontradas na Wikipédia e suas referências. O que me chama a atenção no último caso é a possibilidade (talvez não tão incomum) de romper a rigidez da fronteira, como o fez Lord Rayleigh, bem como a importância da curiosidade, como aponta Peter Burke no livro mencionado anteriormente. A curiosidade em ambientes em que ainda hoje ouvimos o ditado de que a curiosidade matou o gato.
Os meus raros leitores e leitoras, como diria o jornalista Juca Kfouri, poderiam argumentar que isso é passado e que algumas das observações seriam anacrônicas. No entanto os causos seguem no século XX e no atual. Podemos citar a virologista June Almeida (1930-2007), sobre quem já escrevi[ii]: concluiu apenas o ensino médio, virou técnica de laboratório e acabou recebendo o doutorado. Sim, foi ela quem descobriu o primeiro dos coronavírus, em 1965. Mas sigo tropeçando nos verbetes e gostaria de mencionar ainda o neurocientista computacional Walter Pitts (1923-1969). De família pobre de Detroit, abandonou a escola, mas estudou lógica e matemática como autodidata. Escreveu aos 12 anos uma carta para Bertrand Russel, que o convidou para ir à Universidade de Cambridge, mas ele não foi, pois não tinha dinheiro. Continuou a se corresponder com o filósofo inglês e assistiu a suas aulas como ouvinte, quando Russell visitou a Universidade de Chicago. Interagiu com outros grandes pensadores, sempre estudando como aluno ouvinte.[iii] Sem-teto, conseguiu um trabalho de serviços gerais, graças ao lógico Rudolf Carnap. Passado um tempo, novamente em condição de morador de rua, foi acolhido na casa de Warren McCulloch, neurofisiologista e cibernético. Chegou, depois disso, a passar um ano ou dois como estudante regular de física e engenharia e acabou com técnico no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês). O verbete em inglês na Wikipédia traz sua trajetória de forma detalhada e com referências. Pulando uma sequência de muitas contribuições, podemos dizer que a inteligência artificial, que hoje nos encanta ou assusta, deve muito aos achados de Walter Pitts.

Concluo confessando a minha ignorância. Mas um grupo de estudantes, daquela animada turma com a qual discuti conhecimento e sociedade, mostrou-me o fascinante Antônio Bispo dos Santos (1959-2023), o Nêgo Bispo.[iv] O líder quilombola, escritor e filósofo teve apenas o ensino fundamental como educação formal. De resto foi autodidata. A relação com o mundo acadêmico foi inicialmente tensa, talvez por alguma das questões que se mantém de séculos passados, mas Bispo atravessou a fronteira. Hoje seu livro Colonização, quilombos: modos e significações, publicado pela Universidade de Brasília, soma mais de 700 citações, de acordo com o Google Acadêmico.
Em uma época em que o que parece valer mais são planilhas com grandes indicadores, talvez devamos considerar os poucos exemplos aqui apresentados não como exceções, mas como uma possibilidade a ser promovida na relação das ciências com seus “outros”.[v]
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.
[i] Vale a pena ler a coluna, que no primeiro parágrafo observa: “Devido à natureza dos deveres das mulheres, poucas delas tiveram o tempo livre ou a oportunidade de exercer a ciência experimentalmente, mas aquelas que tiveram o gosto e a oportunidade de fazê-lo, demonstraram tanto poder e capacidade de investigar e observar corretamente como os homens”.
[ii] https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/artigos/peter-schulz/pequenas-historias-de-virus-cientistas-e-ciencia
[iii] Lembro que fiz algumas disciplinas como ouvinte nos idos de 1980, mas ouvi dizer que isso já não é permitido. Não tenho coragem de confirmar essa informação, pelo absurdo que isso representa.