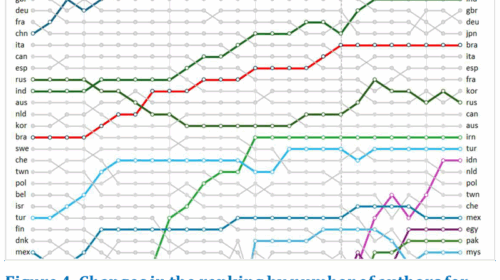Não existe um prêmio Nobel de Economia! E aqui nem estamos a dizer o óbvio, pois a maior parte da audiência que consome, ano após ano, as novidades nobelísticas, solenemente desconhece este fato básico. Mesmo os economistas acadêmicos ignoram, ou preferem ignorar, que o prêmio, desde 1969 concedido aos “economistas”, é, genuinamente, um “Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel”. Ora, mas que importância tem isso, se o mundo todo se debruça em incensar, após um hercúleo esforço de tradução para o vernáculo, as descobertas desses “cientistas”?
Ocorre que a história sempre importa. Ainda mais em se tratando desta quimérica criação que jamais escondeu sua pretensão de elevar o prestígio de uma certa concepção de Economia ao patamar de uma verdadeira ciência aos olhos do grande público.[1]
Os artifícios desta construção couberam a Per Åsbrink, que, nos idos de 1955 tornou-se governador do Riksbank, o Banco Central da Suécia. Åsbrink foi um economista responsável por manobras pouco convencionais para alcançar seus fitos imodestos. Em 1957, já se notabilizara por perpetrar o infame “golpe da taxa de juros”, quando, à revelia do parlamento sueco, elevou as taxas de juros, encerrando anos da política de baixos juros da Social Democracia sueca, que procurava estimular a geração de empregos e contribuir para os esforços de reconstrução desde o pós-Guerra. Novamente em desobediência às prerrogativas do parlamento, e com receitas acrescidas pela sua política monetária conservadora, criou um Fundo administrado pelo Riksbank para as comemorações do jubileu de seu terceiro centenário, erigiu um desgracioso mausoléu de granito como sede para suas novas instalações e outorgou, a si próprio, o controle de vultosos recursos para o financiamento de pesquisas na área de Economia.
Portanto, nada deteria Åsbrink em sua ambição da criação de um Nobel para a Economia: nem os desejos testamentários de Alfred Nobel, nem as vontades do parlamento sueco, nem mesmo a oposição dos herdeiros da Fundação Nobel. Quando confrontado com o obstáculo de que os economistas não tinham nenhum assento na Academia Real de Ciências da Suécia – o comitê responsável pelas premiações –, Åsbrink respondeu prontamente que seus auxiliares próximos se encarregariam da eleição dos laureados. Assim, o “Nobel” de Economia, contra todas as adversidades, seria fabricado em 1969.
Mas o que poderia haver por trás de tamanha ambição? Aqui, como sói acontecer nessas histórias que, embora reais, cheiram a teorias conspiratórias, os detalhes tornam-se ainda mais picantes. Pois eram muitas e bem irrigadas as conexões entre Åsbrink e a Sociedade de Mont Pèlerin.
A Sociedade de Mont Pèlerin, convém lembrar, é a Associação Internacional criada, ao fim da Segunda Grande Guerra, para congregar a nata dos pensadores neoliberais, como estes passaram a se autodenominar, interessados em refundar e promover um liberalismo renovado, seus princípios e seus valores. Dela participaram eminentes, chamemos assim, “intelectuais públicos”, que tiveram grande projeção na área de Economia. No caso de Hayek, Friedman, Stigler, Buchanan, Allais, Coase e Becker, foram todos agraciados com um “Nobel”.
As conexões entre Åsbrink, seus íntimos colaboradores e a Sociedade de Mont Pèlerin modulavam-se por meio de variados canais: pela formação comum em algumas Universidades, sobretudo estadunidenses, comprometidas com o ideário neoliberal; pelos fartos montantes de recursos e de quadros advindos do Riksbank e de bancos suíços, para o financiamento das primeiras reuniões da Sociedade; pelos interesses comuns destes personagens com as articulações políticas do Partido do Povo, em franca oposição à Social Democracia sueca; e pela comunhão de ideias e interesses na disputa com o keynesianismo pela hegemonia na condução das políticas econômicas de países centrais.
O resultado da instituição desse prêmio “Nobel” foi bastante alvissareiro: inserido em um contexto mais amplo de disputas, ele acabou por integrar e reforçar um processo que culminou no triunfo dos economistas neoclássicos nos EUA, que até então dividiam as atenções com os institucionalistas (originais, naquele momento) e na circulação das ideias neoliberais. As sobreposições entre neoclássicos e neoliberais é assunto sempre em disputa, mas não há como negar que o Nobel privilegiou sobremaneira esta coloração de economistas, sobretudo estadunidenses, e, em sua imensa maioria, egressos das mesmas Universidades, de Chicago, ou da Ivy League. Aliás, apenas a título de curiosidade, dos 99 laureados, três foram mulheres. Um, negro.
O que dizer, então, deste “Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel”, de 2025?
Concentremo-nos em dois ganhadores que despertaram maior comoção, até porque são mais conhecidos entre nós. Aqui nos referimos a Philippe Aghion e Peter Howitt, laureados por suas contribuições à teoria do crescimento baseada na chamada “destruição criadora” — processo no qual ondas de inovações se sucedem.
A ideia da “destruição criadora” é de autoria de Joseph Alois Schumpeter, economista nascido no antigo Império Austro-Húngaro, em 1883. Em uma obra seminal de 1942, “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, Schumpeter retratou a “destruição criadora” como um processo inesgotável e de natureza endógena no capitalismo, responsável por criar, em explícita analogia biológica, mutações no campo industrial que varreriam antigas indústrias, em favor de novas estruturas portadoras de inovações, ou destas “novas combinações de materiais e de métodos”. Segundo Schumpeter, este é o fato fundamental no capitalismo, nisto consiste o desenvolvimento econômico e é em meio a este turbilhão dos ventos “perenes da destruição criadora” que as empresas deverão lutar para sobreviver.
Ora, mas se a ideia é de autoria de Schumpeter, há mais de 80 anos, deve haver algo genial e inovador da verve destes dois laureados, não é mesmo? Absolutamente não. Seus modelos, bastante formalizados, restritos às regras de otimização convencionais, nos marcos da elegante mecânica equilibrista dos neoclássicos, chegam a resultados bastante limitados e decepcionantes.
Porém, deve-se dizer, as ideias de Schumpeter frutificaram, e muito, em outro campo. Desde a década de 1980, autores herdeiros da tradição do “pai da inovação”, conhecidos como neoschumpeterianos, criaram um fértil campo de teorização, com um sem-número de ferramentas e úteis conceitos sobre os processos de mudança técnica, seus caminhos de desdobramento, as formas e peculiaridades dos processos de desenvolvimento econômico, a arquitetura dos Sistemas Nacionais de Inovação e os desenhos de políticas públicas mais informadas para alavancar processos de catching-up, ou de forging ahead. Entretanto, este prodigioso conjunto de autores e autoras e de seus ensinamentos, com contribuições seminais para o estudo da inovação, jamais seria considerado para uma premiação do Nobel.
Assim, se no atual momento de crise civilizacional é preciso reafirmar e redobrar as apostas nas narrativas do crescimento econômico ilimitado e nos mitos prometeicos do progresso tecnológico, que tal escolher, a dedo, aqueles que, confinados aos cânones convencionais, souberam destilar uma, ou talvez duas ideias do imenso caudal das contribuições neoschumpeterianas, neutralizando-as de quaisquer asperezas para as hostes firmemente uniformes do pensamento convencional? Aghion e Howitt eram o par perfeito para este figurino encomendado.
Dado o mal-estar da contemporaneidade, porém, não deveria causar alguma estranheza uma distinção outorgada para um trabalho que promove o ideário de um crescimento econômico sustentado? Vejam, não estamos falando de sustentável, mas de sustentado, ou seja, de um crescimento econômico contínuo e ilimitado.
Ora, vivemos em tempos de um colapso ambiental sem precedentes. Conseguimos a proeza de imprimir a marca da humanidade, em seu tempo histórico, na dimensão do tempo de longuíssima duração dos fenômenos geológicos. O Antropoceno – ou, mais precisamente, o Capitaloceno – é a época que produzimos, em que uma determinada forma de organização da humanidade torna-se uma força de transformação dos sistemas biogeoquímicos da Terra. Assistimos à sexta grande extinção em massa em nosso planeta. Das nove fronteiras planetárias, sete já foram ultrapassadas. Convém lembrar: as fronteiras planetárias representam os limiares dos sistemas terrestres que garantem a resiliência dos processos metabólicos fundamentais que garantem a manutenção da teia da vida na Terra. Ultrapassar essas fronteiras significa trafegar por estradas sem retorno, por vias que nos conduzirão a territórios desconhecidos e, infelizmente, bastante hostis à vida. Nós também, seres humanos, somos parte da teia da vida. Há momentos em que o óbvio ululante merece ser reafirmado.
Há uma legião de autoras e autores que reconhecem as tramas desta complexa crise sistêmica em que a humanidade se embrenhou. Muitas e muitos sugerem que os caminhos que até aqui perseguimos, se a alguns poucos fizeram prósperos, jamais levarão à generalização desta prosperidade. Ou seja, o capitalismo conseguiu criar um modo de vida afluente para algumas elites no planeta. Dizemos afluente e não significativa, libertadora ou desejável. As palavras, aqui, importam.
Para sustentar esse modo de vida “imperial”, imensas massas deserdadas, nas periferias do mundo, ou nos quartiers chauds dos países cêntricos, também se veem convidadas. Convidadas à exploração, a serem expropriadas de seus corpos, de seus territórios, de seus saberes, de seus modos de vida tradicionais, de suas cosmovisões. Sem este empenho atlântico (sic), a festa não se faz. Não há folguedo no andar de cima, sem serviçais invisíveis que sirvam a mesa.
Sei que nós, economistas, criados sob o mantra do crescimento econômico, temos dificuldades em pensar um mundo diverso. Por vezes, algum sujeito mais iconoclasta vem cutucar nossa vaca sagrada. Que monstro é esse que se chama PIB? A quem isso serve? Em 1968, Robert Kennedy, em discurso inspirado, na Universidade de Kansas, sugeria que o PIB era pródigo em contabilizar o napalm derramado sobre as populações civis no Vietnam, as bombas nucleares, os carros blindados da polícia a reprimir as convulsões urbanas, os programas de televisão que glorificavam a violência para vender brinquedos aos pequenos e a crescente produção de armas para os civis. O que o PIB não media? Respondia Kennedy: “a beleza de nossa poesia ou a solidez de nossos casamentos, a inteligência de nossos debates públicos ou a integridade de nossos funcionários públicos… nem nosso conhecimento, nem nossa compaixão (…) mede tudo, em suma, exceto aquilo que torna a vida valiosa.”
Não seria o tempo de pensarmos em métricas alternativas? Não seria o tempo de pensarmos em incorporar as questões ambientais como elemento integrador e transversal em nossos cursos de Economia? Não seria o momento de trazermos para dentro de nossas salas de aula a ideia de que as leis da física e da entropia continuam a valer, mesmo que produzamos modelos teóricos que ignoram sua pertinência? Não seria o caso de levar a sério a questão das desigualdades de classes, de gênero, raciais? Não seria mais do que urgente pensar na questão dos territórios impactados pelos projetos que estão a penhorar nosso futuro? Que ensinamentos seriam impactados por uma agenda como esta?
E o “Nobel”? Ora, o tal do “Nobel” serve a isso, a pensar sobre o que vale a pena pensar.
Esse texto não reflete necessariamente a opinião da Unicamp.
Paulo Sérgio Fracalanza, Adriana Nunes Ferreira, Alex Wilhans Palludeto, Simone Deos são docentes do Instituto de Economia (IE) da Unicamp e Rosana Icassatti Corazza é docente do Instituto de Geociências (IG) da Unicamp
[1] Esta história pode ser lida com grande deleite no magistral artigo de MIROWSKI, Philip. The neoliberal Ersatz nobel prize. In: PLEHWE, Dieter; SLOBODIAN, Quinn; MIROWSKI, Philip (Ed.). Nine lives of neoliberalism. Verso Books, 2020.
Foto de capa: