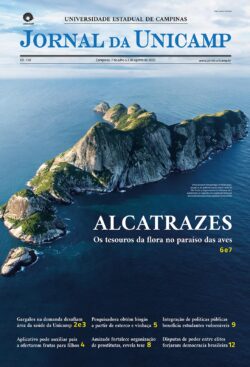Democracia tutelada pela elite
Democracia tutelada pela elite
As eleições e as reformas da Primeira República abriram caminho para a consolidação da Justiça Eleitoral no país

Sem intenções democráticas, as elites econômicas e político-partidárias da Primeira República (1889-1930) pavimentaram o caminho para a criação da Justiça Eleitoral, em 1932. Segundo o cientista social Jean Lucas Macedo Fernandes, esse representa um marco na construção da república democrática representativa do Brasil. Sob a perspectiva do funcionamento dos arranjos realizados pelos representantes políticos da época – todos oligarcas –, Fernandes analisou em sua tese, defendida no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, as disputas de poder entre as elites, que se davam em torno do controle dos processos eleitorais e, por conseguinte, da máquina pública. A institucionalização do processo democrático, pela via das eleições, contribuiu para o desenvolvimento da democracia representativa no país.
A pesquisa joga luz sobre esse caminho tortuoso, não linear e aberto aos inimigos que caracteriza a implementação e a defesa da democracia. O pesquisador mostra que nem só de episódios com más consequências para a política nacional viveu a Primeira República. Ao contrário disso, a tese aponta que a própria disputa entre as elites, naquele momento fragmentadas nos Estados, calçou institucionalmente a república democrática. “A democracia nasceu sob a tutela das elites no Brasil. O processo eleitoral se transformou em um mecanismo de chancela dessa representação”, diz o cientista social.
O papel das elites em relação à democracia, portanto, é contraditório porque, ao mesmo tempo em que trabalhavam em favor de si mesmas e de outros setores da sociedade, essas elites também se valeram da criação de instituições democráticas a fim de controlar a política. “Mas esses eram grupos antipopulares, que excluíam as massas”, diz Fernandes. Naquele momento, a população vivia predominantemente na zona rural e o voto não constava entre os direitos das mulheres nem dos analfabetos.
Entre a Proclamação da República, em 1889, e o fim de sua primeira fase, em 1930, ocorreram 39 eleições – 11 para presidente, 14 para a Câmara dos Deputados e 14 para o Senado. O processo eleitoral já acontecia nos níveis municipal, estadual e federal, mas não havia vereador, prefeito, deputado, governador ou presidente de origem popular.


Reformas eleitorais
Nesse mesmo período de mais de 40 anos, as elites em disputa promoveram duas importantes reformas eleitorais (em 1904 e em 1916) e uma reforma constitucional (1926). O objetivo declarado das reformas, a moralização das eleições e o combate às fraudes, servia à verdadeira intenção das elites: regular e controlar o processo eleitoral de modo a torná-lo mais previsível.
Os próprios representantes das elites, que chancelavam a votação, a apuração e os resultados da comissão verificadora das eleições, disputavam as vagas da Câmara dos Deputados. Porém as duas reformas eleitorais, especialmente a de 1916, tiraram, aos poucos, o papel de chancela do Poder Legislativo nas eleições e transferiram-no para um Judiciário então nascente. Antes das reformas, havia a figura dos juízes regionais, mas ainda não existia a Justiça Eleitoral. Por meio da presença do Judiciário nas eleições, mesmo antes da criação da Justiça Eleitoral, a democracia ganhou espaço. De acordo com a orientadora do estudo, Rachel Meneguello, a tese apresenta uma imagem da Primeira República praticamente inexistente nas referências da literatura clássica sobre o período. E faz isso ao destacar aspectos dos processos eleitorais de então, da dinâmica de institucionalização e sobretudo da criação da Justiça Eleitoral, em 1932.
Ebulição social
A Primeira República não era nem um pouco tranquila. No final do século XIX e início do XX, já se estabelecia no mundo ocidental a democracia moderna, com partidos e uma ideia de representação política, ainda que houvesse distintas realidades em cada país. No Brasil, em meio a um contexto de ebulição social, com movimentos trabalhistas e a consolidação de alguns setores econômicos a partir do avanço da imigração, o arranjo socioeconômico continuava a deixar de lado grande parte da população. E a sociedade brasileira como um todo começava a solicitar espaço no mundo da política.
Havia também um debate intelectual que sustentava as mobilizações institucionais. O movimento de trabalhadores se intensificava, como aconteceu nos anos 1910, na Europa. O Partido Comunista do Brasil (PCB) nasceu em 1922, mesmo ano em que começava o governo de Arthur Bernardes (1922-1926), marcado pela violência, por um estado de sítio e pela repressão às greves. Um período também marcado por várias mobilizações populares contrárias à política partidária elitista.


Os militares desde o início
Dentro desse cenário, destaca-se o papel dos militares na política nacional. Membros das Forças Armadas comandaram o país depois da Declaração da República, inicialmente com o marechal Deodoro da Fonseca e, depois, com o também marechal Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes do Brasil. O primeiro presidente civil eleito pelo voto direto, Prudente de Moraes, ficou no poder de 1894 a 1898. Em 1910, os militares voltaram à cena, com Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, que disputou as eleições contra Ruy Barbosa. “Nós temos na política brasileira democrática uma forte influência dos militares que advém já desse momento e do próprio Império”, observou Meneguello.
A discussão sobre a presença dos militares no poder foi pautada por Ruy Barbosa durante a sua campanha civilista, na eleição de 1910, a mais disputada da Primeira República. Mas Ruy Barbosa tinha suas contradições, diz Fernandes. O político fazia parte das elites ao mesmo tempo em que ajudava a provocar a moralização e a pensar uma representação menos exclusivista.
“Nossa democracia ainda é muito dependente dessa chancela dada por grupos das elites políticas que estão no poder há muito tempo”, avalia o pesquisador. “Nossa cultura política é marcada por práticas coronelistas, fora das instituições, e por uma violência simbólica em relação a eleitores menos escolarizados, sobretudo de regiões mais afastadas de centros urbanos.”
Mais recentemente, a força das instituições públicas salvaguardou a democracia em meio a várias ameaças – desde as contestações sobre as urnas eletrônicas até a tentativa de golpe de janeiro de 2023 –, afirma a orientadora. “Estamos organizados institucionalmente, mas não pode ser só isso. As desigualdades ainda imperam. A falta de direitos cria mobilizações e demandas de que a democracia não dá conta. Assim como também não dá conta dos interesses das elites, cada vez mais amplos.”
“A nossa democracia teve uma trajetória tortuosa. Em alguns momentos, a discussão tornou-se tensa e isso resultou em um golpe, como em 1964 – golpe esse realizado para impedir a tentativa de ampliar o papel das massas nas decisões políticas. A democracia deve ser compreendida enquanto um processo não linear e sujeito a reveses. Não se trata de uma via de mão única”, diz Fernandes. “A contradição da democracia é você ver discursos antidemocráticos ganhando força. Quando vemos vários movimentos de direita crescerem no mundo inteiro, isso é porque as democracias estão abertas aos seus inimigos o tempo todo”, complementa Meneguello.