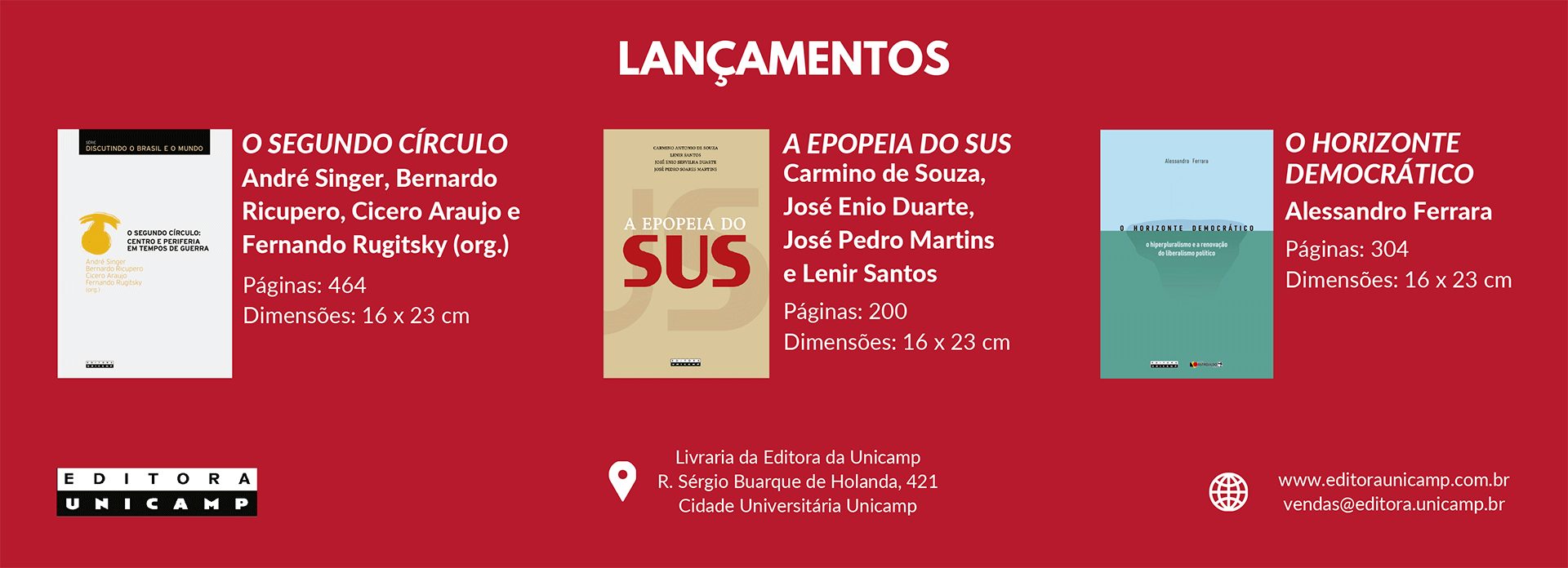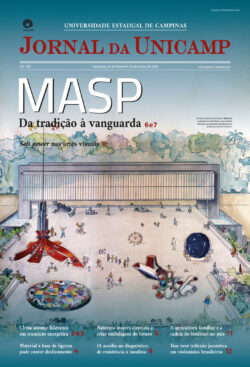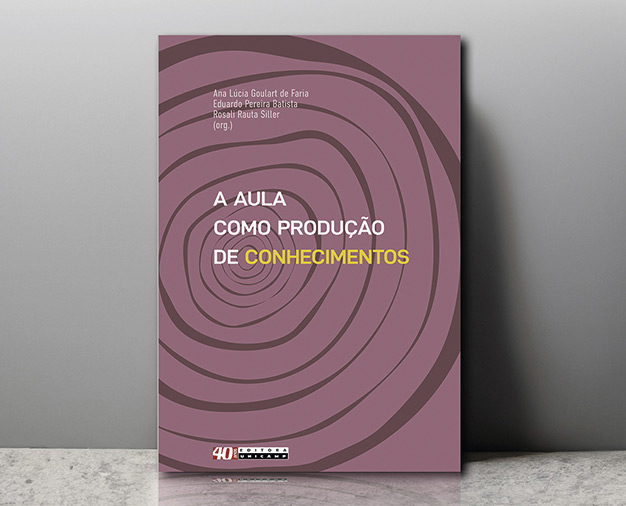
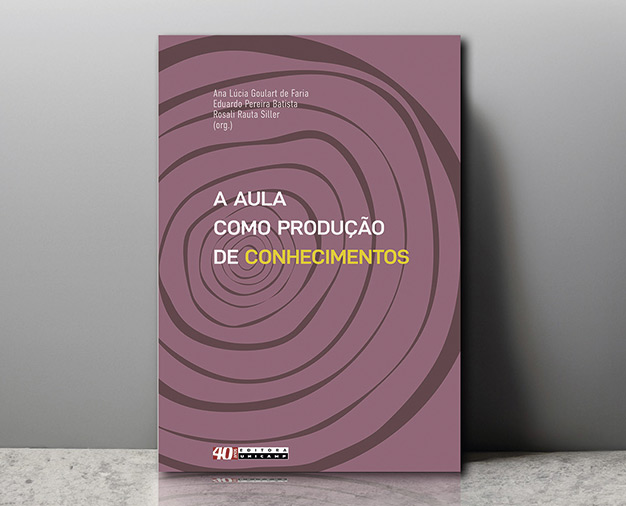
Passado à luz do presente: a aula como acontecimento
O livro A aula como produção de conhecimentos: interlocuções com a sociologia da infância, organizado por Ana Lúcia Goulart de Faria, Eduardo Pereira Batista e Rosali Rauta Siller, saiu do prelo há menos de dois anos. Mais do que uma obra de divulgação, trata-se de um importante compêndio com textos de nove autores e com a tarefa de “inventar um caminho para criar um espaço e um tempo não apenas de transmissão, mas de produção de saberes e conhecimentos; um caminho no qual fosse possível reposicionar docentes e discentes na relação com o passado à luz do presente”.
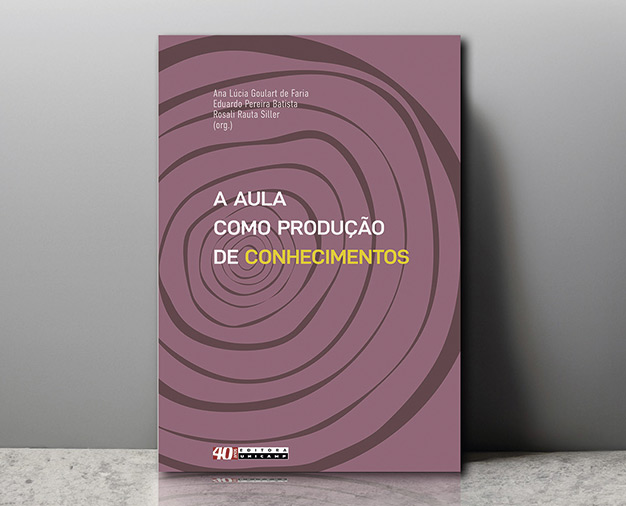
O livro A aula como produção de conhecimentos: interlocuções com a sociologia da infância, organizado por Ana Lúcia Goulart de Faria, Eduardo Pereira Batista e Rosali Rauta Siller, saiu do prelo há menos de dois anos. Mais do que uma obra de divulgação, trata-se de um importante compêndio com textos de nove autores e com a tarefa de “inventar um caminho para criar um espaço e um tempo não apenas de transmissão, mas de produção de saberes e conhecimentos; um caminho no qual fosse possível reposicionar docentes e discentes na relação com o passado à luz do presente”.
A publicação, uma coletânea dedicada in memoriam a Lisete Arelaro, circunscreve-se ao campo da sociologia da infância, adotando uma abordagem interseccional e levando em conta os marcadores sociais de gênero, raça, classe social, etnia, idade e deficiência.
A tessitura dos textos aconteceu nas aulas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp, durante o segundo semestre de 2021 – no contexto da pandemia de covid-19, o que “tornou possível o trabalho intelectual e a experiência do pensamento”, conduzindo e deixando-se conduzir, de modo que as aulas se transformassem em lugares de formação, conforme diz um trecho do livro.
No primeiro texto, intitulado “Filosofia da infância, entre o tempo e a política: do governo ao não governável”, Sílvio Gallo realiza um percurso pela “filosofia da infância”, no intento não de substituir a perspectiva sociológica por uma perspectiva filosófica, mas de trazer outras possibilidades de ampliação do tema. Ao defender que os meninos e as meninas “mostrar-se-ão inteligentes e autônomos”, com capacidade para gerir os próprios destinos, o autor divide os parágrafos em: “Filosofia da infância: um tempo não cronológico daqueles que ‘não têm fala’”; “Filosofia da infância: poder e política”; e “Em torno de uma infância não governável”.
Em “A educação entre o trabalho, a obra e a ação: uma contribuição arendtiana para a educação infantil”, o segundo texto do livro, de Batista, apresentam-se as contribuições de Hannah Arendt oriundas de sua abordagem filosófica, vinculada ao pensar acerca das práticas e dos discursos.
De autoria de Antonio Miguel, o terceiro texto, “Uma colagem de ‘imagens’ das relações entre infância, caráter e destino”, realiza uma investigação terapêutica sobre o problema das relações entre os conceitos de “caráter” e de “destino” que emergiram nas primeiras décadas do século XX e sobre os modos como tal problemática afetou e produziu novas imagens da infância e da pedagogia.
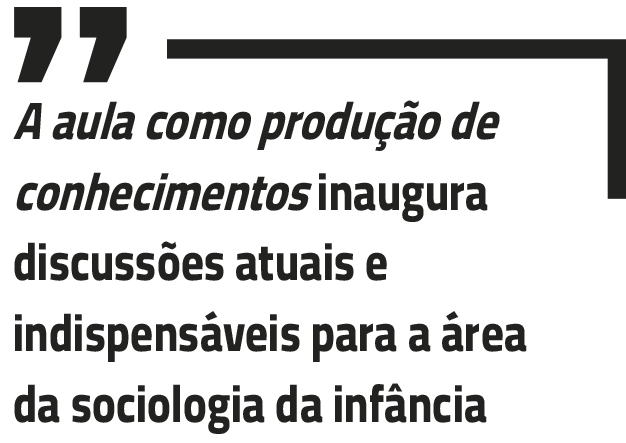
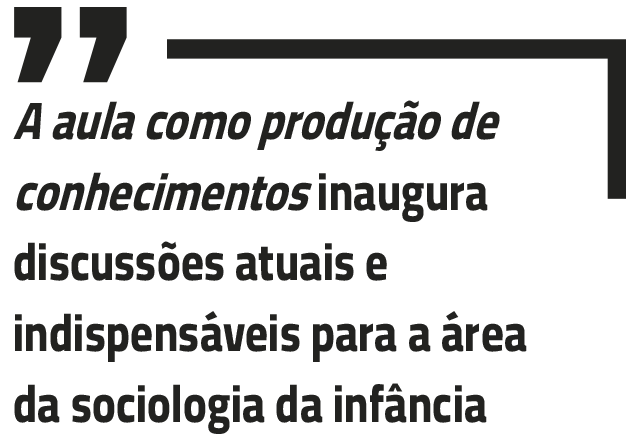
O quarto texto, “Infância e políticas públicas: diálogos com contribuições de Michel Foucault”, escrito por Maria Renata Alonso Mota e Gisele Ruiz Silva, discute os novos contornos que as políticas públicas vêm tomando no tempo presente, intermediado por um governo das infâncias que se articula com uma governamentalidade neoliberal mesclada com conservadorismo, produzindo outros modos de educar.
Já no texto de número cinco, “Participação das crianças na luta de classes e possibilidades de uma educação emancipatória desde a creche”, Eliana Elias de Macedo sustenta que, diante do antagonismo de classes e da reciprocidade das relações entre as culturas infantis e a sociedade adulta, a questão principal passa a ser: “Como as crianças desde o nascimento participam da política?”.
Em “Infâncias e mulheres, do luto à luta: perversidades estruturais, pedagogias descolonizadoras e poéticas de resistência”, o sexto texto, assinado por Adriana Alves da Silva, encontramos o poema de Conceição Evaristo “Vozes-Mulheres” para reafirmar as interlocuções entre pesquisa, ensino e extensão acadêmica em torno das infâncias, dos feminismos plurais e dos estudos decoloniais a partir de percursos de pesquisa e criação que abordam a temática da violência com base em uma análise interseccional.
De autoria de Vanderlete Pereira da Silva, o sétimo texto, “Os efeitos da colonialidade na educação das crianças manauaras: quando a violência recrudesce sobre a vida das mulheres e crianças”, mais do que desvios do pensamento e das práticas eurocêntricas, busca alternativas para escapar das formas de poder impostas e vislumbrar outros caminhos possíveis.
“‘Aprendizagem de desaprender’ em rodas de conversas com as sabedorias indígenas: construindo outros jeitos de estar com as crianças”, o oitavo texto, de Mirian Miroca Lange Noal, nasce do desejo de compartilhar saberes ancestrais para melhor compreender as crianças pequenas indígenas em suas coletivas, singulares e brincantes experiências com a natureza e com a cultura.
O último texto, de número nove, “Notas sobre a infância, deficiência e interseccionalidade: por uma pedagogia aleijada desde a educação infantil”, Fernanda Cristina de Souza chama atenção para o fato de a relação desigual existente, em nosso país, entre pessoas negras e não negras afetar crianças e adultos, inclusive aqueles com deficiência.
No livro, os autores e as autoras reposicionam docentes e discentes na relação com diferentes heranças culturais e epistemológicas – um passo importante e decisivo na formação de cada caminhante.
A aula como produção de conhecimentos inaugura discussões atuais e indispensáveis para a área da sociologia da infância, caracterizando-se pelos afetos alegres que mobiliza e pelos bons encontros que promove e enfileirando-se contra o empobrecimento da linguagem e do pensamento, na medida em que inventar a aula como acontecimento significa uma abertura para o trabalho intelectual e a experiência do pensamento.
O livro dos professores Matioli e Souza é uma contribuição valiosa para que os(as) estudantes das ciências da vida possam compreender as bases da computação digital e os enormes subsídios que ela pode trazer à pesquisa nessa área. Após um capítulo introdutório sobre a ideia de bioinformática, os autores apresentam três capítulos voltados a temas básicos em computação, abrangendo tanto elementos de hardware quanto de software. Esses capítulos permitem que o(a) estudante que não teve formação sistemática nesses temas compreenda o modus operandi das máquinas digitais e possa, assim, lidar com os elementos computacionais da bioinformática a partir de uma visão mais ampla e rica. Em seguida, os autores passam a discutir em profundidade problemas como o alinhamento entre sequências de macromoléculas, a filogenética, a filogenômica, os motivos e as estruturas de ácidos nucleicos e de polipeptídeos e as proteínas. Por fim, são apontadas perspectivas de desenvolvimento na área, o que estabelece uma ponte entre a formação e os desafios de pesquisa que os(as) leitores(as) poderão vivenciar caso desejem trilhar o caminho da investigação sistemática da área. Cabe destacar, por fim, que o livro é fruto da experiência didática dos autores – isso faz com que sua organização seja uma base sólida para que docentes de nosso país e de outros países da comunidade lusófona construam seus cursos no tema.
Nima Spigolon é professora da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp.
O Projeto Resenha é fruto de uma parceria entre a Editora da Unicamp e a Associação de Docentes da Unicamp (Adunicamp).
Título: A aula como produção de conhecimentos: interlocuções com a sociologia da infância
Autor: Ana Lúcia Goulart de Faria, Eduardo Pereira Batista e Rosali Rauta Siller
Ano: 2022
Páginas: 304
Preço: R$ 99,00