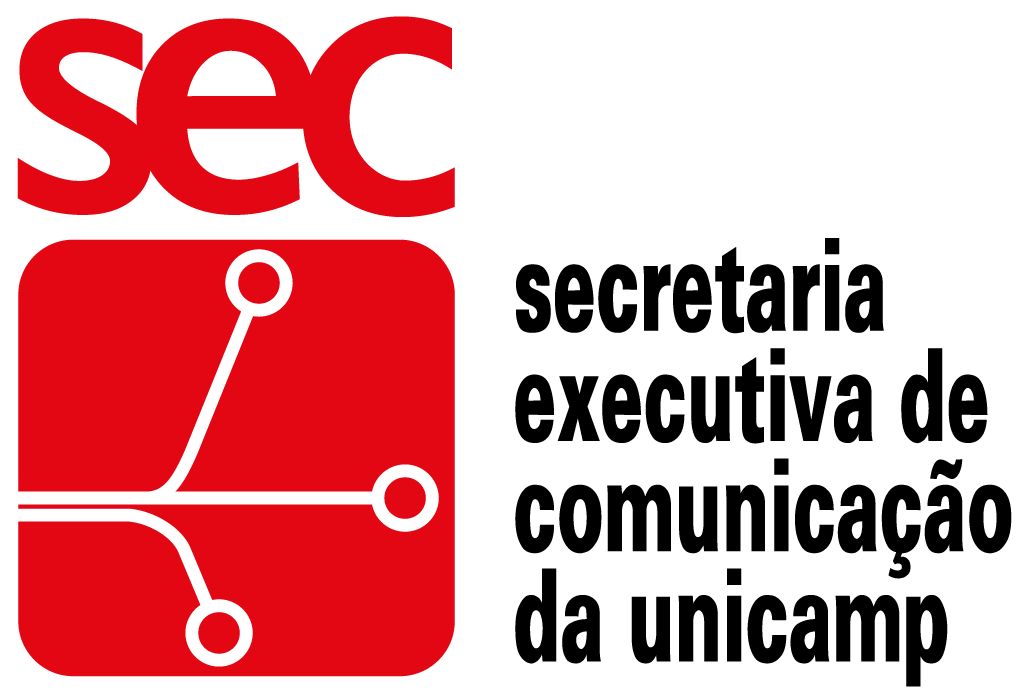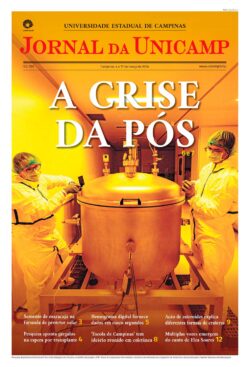Estudo conclui que capacitação de profissionais precisa ser vista como prioritária

No primeiro semestre de 2023, a lista de espera por um transplante no Brasil contava com 1.067 pacientes pediátricos. O pré-transplante, fase que compreende o intervalo entre a notícia de que a criança precisa de um novo órgão e o dia em que ocorre o procedimento, é cercado de medos, frustrações, incertezas e mudanças. No entanto, frequentemente, a família do paciente não recebe informações suficientes sobre o tratamento e acaba recorrendo a fontes não confiáveis para se adequar à realidade que se impõe. A urgência em capacitar profissionais de saúde para lidar com essa realidade é uma das conclusões da dissertação de mestrado “Manejo Familiar da Criança que Espera por um Transplante de Órgãos Sólidos”, de Hellen Ruiz, apresentada na Faculdade de Enfermagem (FEnf) da Unicamp.
A autora do estudo explica que o estado de tensão instala-se antes mesmo de a família saber que o filho ou a filha necessita de um transplante de órgão sólido, enquanto os médicos correm em busca do diagnóstico e tratamento adequados. Ao receber a notícia, as reações costumam ser bastante divergentes. Enquanto para alguns o transplante é encarado como uma salvação, há quem o veja como o fim dos sonhos familiares, relata a enfermeira. A definição do quadro depende das crenças e dos valores de cada grupo familiar. E ditará o que vem a seguir.
Segundo a pesquisadora, a forma como se dá esse manejo na fase pré-transplante tem impacto direto no desfecho da situação. Ruiz observa, ainda, que o número de pacientes pediátricos na fila e o número de óbitos durante a espera vêm crescendo nos últimos anos. “Os profissionais de saúde precisam ter mais informações sobre essa fase e receber treinamento. A equipe hospitalar deve estar adequadamente capacitada para atender à família, proporcionando-lhe suporte abrangente, auxiliando-a na compreensão da situação atual e fornecendo as devidas orientações sobre as fases subsequentes. A forma de viver esse momento se dá de maneiras diferentes. Por isso, é primordial conhecer cada unidade familiar para tratar não só a criança, mas todos os que serão afetados.”
Durante seu mestrado, a enfermeira conduziu uma pesquisa qualitativa com integrantes das famílias de oito crianças, com idades até 12 anos, que estavam na fila por um transplante de coração, de rim ou de pulmão e nunca haviam passado por esse tipo de procedimento. Após um contato inicial realizado em grupos do Facebook voltados para famílias de pessoas que aguardavam um órgão ou que já haviam sido transplantadas, oito mães e um pai, das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, foram selecionados e entrevistados.

Mapeando o manejo
O Modelo de Estilos de Manejo Familiar, construído para identificar aspectos-chave da forma como uma família responde à doença crônica de uma criança, serviu de referencial teórico para o estudo. Até então, esse modelo não havia sido aplicado para esse tipo de caso, o que confere ineditismo à pesquisa. “Trata-se de uma ação interacionista, partindo do pressuposto de que as pessoas agem com base no significado que as coisas têm para elas. Funciona como uma lente, mostrando os comportamentos dos envolvidos e as consequências do manejo, o que possibilita traçar vias de intervenção”, explica Ana Márcia Castillo, que orientou a maior parte do estudo.
Com base nessa ideia, Ruiz elaborou um questionário voltado para a identificação e análise de cada realidade. A pesquisadora buscou detalhes sobre a forma como a família enxergava a criança e a sua doença. Notou que, enquanto alguns entrevistados percebiam o filho ou a filha como indivíduos totalmente capazes de viver normalmente e de ter qualidade de vida, outros os viam como alguém inteiramente dependente e incapaz. “As implicações disso são muito diretas. Por exemplo, se não acredito que meu filho de 14 anos consegue ter uma vida normal, como ele poderá assumir a responsabilidade pela própria medicação? Como ele poderá trabalhar se não consegue pegar um ônibus sozinho?”, explica Castillo.
A maneira como as demandas de cuidado com a criança à espera do transplante foram incluídas na rotina – como a distribuição das responsabilidades – deu pistas sobre o comportamento de manejo, isto é, sobre como os envolvidos estavam lidando com questões práticas do dia a dia. “Todas as mães entrevistadas deixaram seus empregos para cuidar dos filhos”, lembra Ruiz. “Quando há uma situação mais difícil de manejo, é comum ouvir coisas como: ‘Não faço mais nada. Vivo em função de cuidar do meu filho’. Um cenário bem diferente daquele de uma família que se reúne e decide que todos vão ter de começar a ajudar em casa”, diz Castillo.

A partir do levantamento, a pesquisadora captou desde características que já haviam sido descritas na literatura especializada até aspectos inesperados. “Temos a imagem de que todos querem que o transplante ocorra e que resulte na melhora esperada. Claro, houve isso. Contudo, me deparei com famílias que viviam na expectativa de que a criança melhorasse e que não tivesse de receber o transplante. E isso realmente aconteceu em um dos casos. Houve uma melhora do quadro e a equipe responsável achou melhor retirar o paciente temporariamente da lista”, recorda-se.
Outra surpresa foi encontrar casos em que a experiência de pré-transplante fortaleceu a relação conjugal, ao contrário do que sugere a literatura. A maioria dos entrevistados na pesquisa afirmou que o casal se tornou mais unido durante o período, conta Ruiz. Ainda assim, em dois casos, as diferenças de opinião sobre o melhor tratamento acabaram contribuindo para um desgaste da relação conjugal e o subsequente divórcio. Aspectos como distribuição de tarefas domésticas e engajamento de cada um dos cônjuges nos cuidados com a criança costumam abalar casamentos, explica a pesquisadora. O emprego do modelo permitiu identificar, por fim, as consequências que o manejo da situação trouxe para a vida de todos. Assim, Ruiz conseguiu notar a forma como a família se enxergava no momento e o que ela esperava para o futuro.
As alterações nessa dinâmica ao longo da fase pré-transplante são de naturezas diversas, pedindo vias de ação diferenciadas. A partir dos dados analisados, a pesquisadora identificou tópicos fundamentais a serem trabalhados principalmente por enfermeiros que atuam no setor. O primeiro passo é fornecer, em uma linguagem acessível, orientação sobre questões práticas relativas à doença, entre as quais os cuidados com a criança em casa – como higienizar um cateter, por exemplo. Esclarecer todas as dúvidas é essencial para promover a esperança nos integrantes dos grupos familiares, ensina Ruiz. “É importante mudar a perspectiva que eles têm a respeito da doença.” A equipe deve estar atenta também para a possibilidade de entrar em cena no caso de sobrecarga materna e crise conjugal. E deve acompanhar a situação enquanto uma nova dinâmica estiver se estabelecendo em casa e providenciar aconselhamento profissional para o casal.
Para Daniela Alves, docente da FEnf que orientou o mestrado em sua parte final, a pesquisa de Ruiz chama atenção para a complexidade do trabalho do enfermeiro que atua em equipes de transplante. “O enfermeiro, ao mesmo tempo que instala a máquina de hemodiálise e fica com o paciente por até 6 horas por dia, trata de problemas sociais daquela família. Por isso, é comum nos tornarmos a referência deles no hospital. Contribuímos para o seu letramento. Eles nos procuram para explicar o que é imunossupressão, por exemplo, e também para saber se o filho pode brincar na areia do parquinho ou pular na piscina usando cateter de hemodiálise”, conclui.