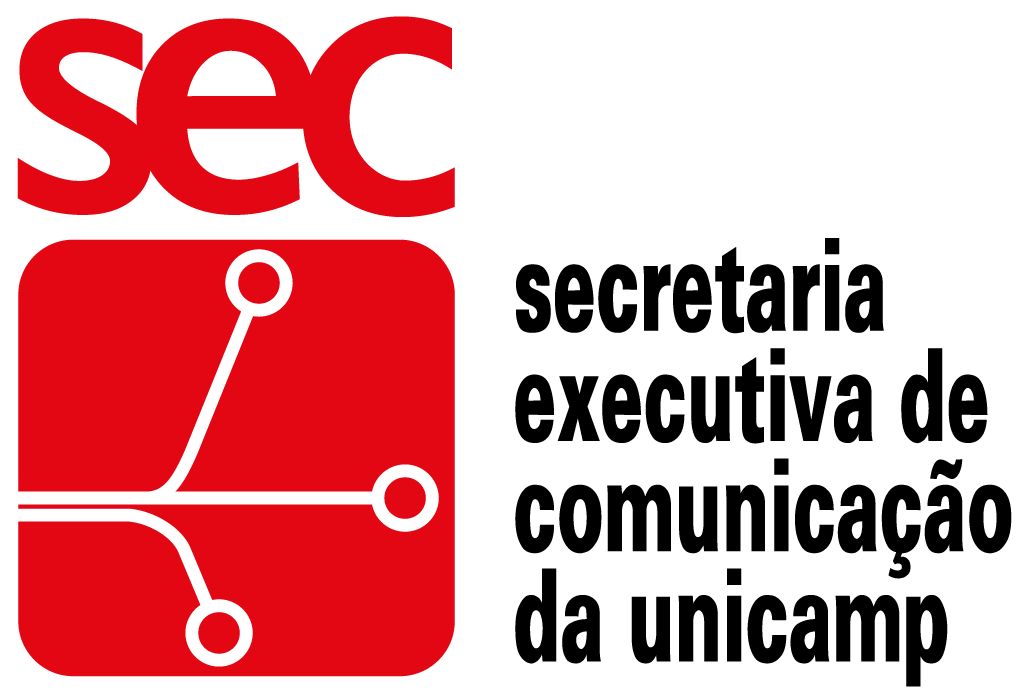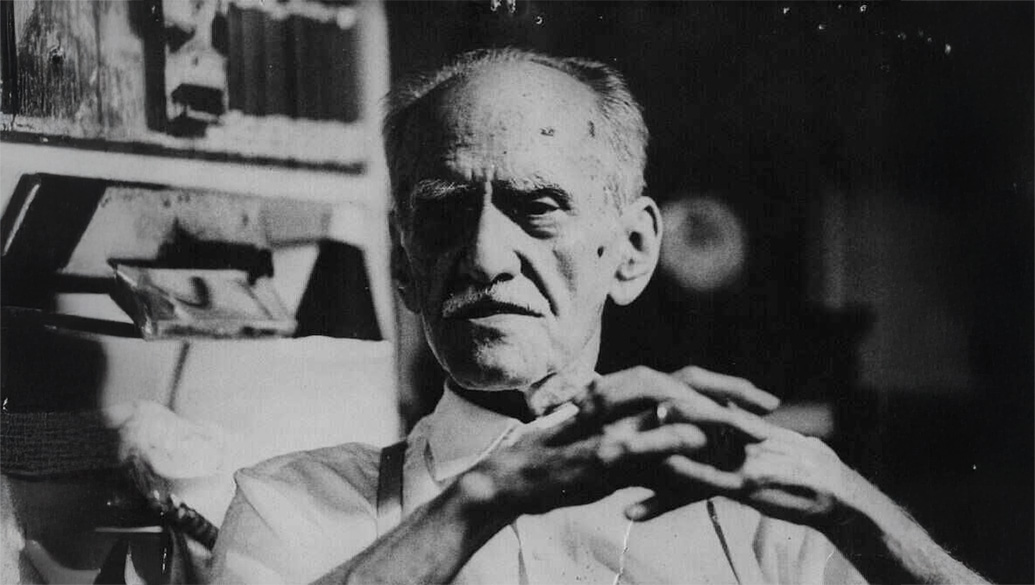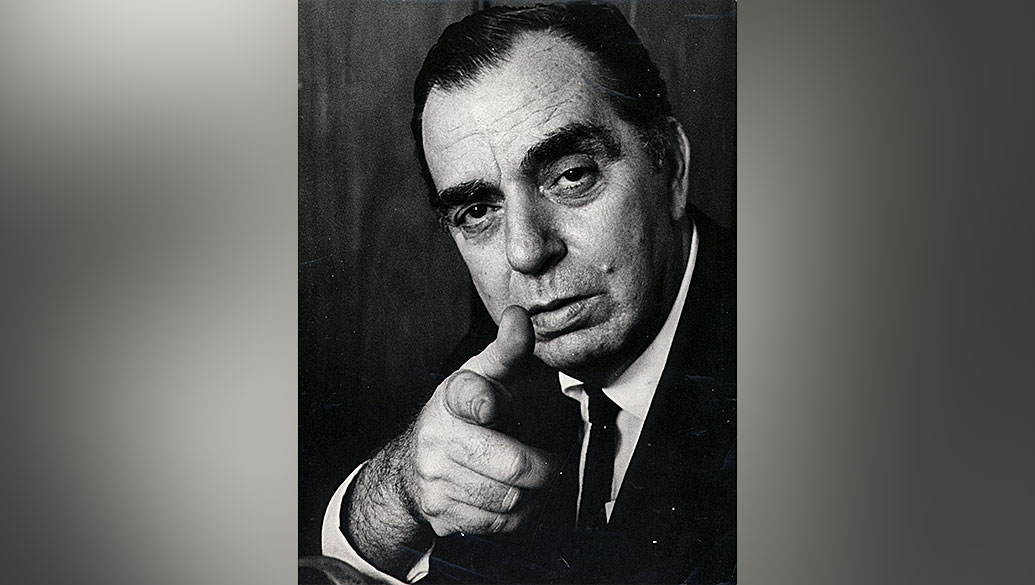Nasci em Manaus, em 1971. A Zona Franca tinha apenas 14 anos de existência e começava a produzir seus efeitos benéficos na cidade. Mesmo sendo muito pobre, desde que me entendo por gente, sempre quis ser cientista [1]. Sonhava em estudar na Unicamp. O sonho tornou-se realidade em 1991. Como não tinha como pagar aluguel, consegui uma vaga na Moradia Estudantil da Unicamp, na casa H2. Fazia minhas compras em uma pequena mercearia. Ia e voltava a pé, com as sacolas contendo, basicamente, miojo, atum enlatado, leite, achocolatado e bolachas recheadas para o café da manhã. Vida simples. O dinheiro era literalmente contado para o transporte, a alimentação nos finais de semana (miojo com atum ou cachorro-quente) e os tíquetes do bandejão. Às vezes, sobravam alguns trocados, que eu gastava comprando livros nas extintas livrarias do centro de Campinas.
Como cada centavo fazia diferença, eu sempre prestava muita atenção em onde e como gastava meus cruzeiros. Lembro-me de uma ocasião em que, ao passar os produtos pelo caixa do supermercado, acabei perdendo a paciência com a funcionária, pois, pela milésima vez (obviamente uma hipérbole), precisava reclamar do preço errado. Porém, o que realmente me tirou do sério foi que a diferença era sempre para mais, nunca para menos. Erros genuínos têm padrão aleatório: uns para mais; outros, para menos. Aquilo parecia intencional. Num rompante de raiva, perguntei: “Por que o preço sempre sai mais caro?”. A moça do caixa não me respondeu. Seus olhos, angustiados e tristes, encontraram os meus e, em silêncio, ela corrigiu o valor do produto.
Na volta para casa, carregando minhas compras, não parava de pensar no absurdo daquela situação. Errar o preço para mais, consistentemente, era um tipo de roubo. Por que ela faria aquilo? Eu era tão pobre quanto ela. Certamente, aquele “roubo” não iria para o seu bolso, pois estava registrado, e uma rápida conferência contábil apontaria a falta, caso ela se apropriasse da quantia surrupiada. Para mim, aquilo simplesmente não fazia sentido. Minha raiva só aumentava a cada passo que dava. Já quase chegando à Moradia, lembrei-me do olhar que trocamos. Um frio percorreu-me a espinha! E se ela fosse obrigada a proceder assim? Não — pensei —, ninguém me forçaria a fazer aquilo. Se alguém tentasse, eu pediria demissão na hora. Não trabalharia em um local onde o padrão moral fosse tão baixo!
Meus pensamentos já iam se dispersando quando me ocorreu outra dúvida, ainda mais incômoda: e se eu fosse casado e tivesse filhos? Será que a decisão seria tão fácil? Aquela moça deveria ter uns trinta anos. Provavelmente, era casada. Teria filhos? Não sei. Porém, se aquela fosse sua única fonte de renda, um pedido do patrão, por mais indecente que fosse, soaria como uma ordem irrecusável. É, a vida não é simples, não. Naquela altura, como estudante, minhas responsabilidades eram limitadas. Eu podia fazer escolhas radicais, e o único afetado seria eu mesmo. Talvez aquela funcionária tivesse que optar entre o certo e o errado, tendo como pano de fundo a sobrevivência dos próprios filhos. O que eu faria naquela situação?
Gosto de fantasiar que optaria pelo certo. Ah, o autoengano! Sempre imaginamos ser melhores do que realmente somos. Foi refletindo sobre esse acontecimento, décadas depois, que compreendi uma das principais razões para a estabilidade dos servidores públicos de todas as esferas governamentais. Nenhum servidor público pode ser coagido a realizar um malfeito por medo de perder seu sustento. Na eventualidade de um superior hierárquico (ou qualquer indivíduo) assediá-lo para que cometa um ato ilícito, ele pode simplesmente se recusar. Obviamente, não sejamos ingênuos: sofrerá outros tipos de retaliação, mas não perderá o emprego e, portanto, não exporá a família a privações. A estabilidade permite que o servidor público faça sempre o certo. Quiçá usassem mais esse “superpoder”! Aquela atendente do caixa poderia racionalizar seu desvio de conduta e até dormir em paz, mas nenhum servidor público com estabilidade terá aquele atenuante — não lhe restando alternativa senão encarar a própria pusilanimidade ou mau-caratismo.
[1] Provavelmente, inspirado pelos desenhos infantis da época que retratavam os cientistas (loucos) como pessoas que resolviam tudo.
Foto de capa: