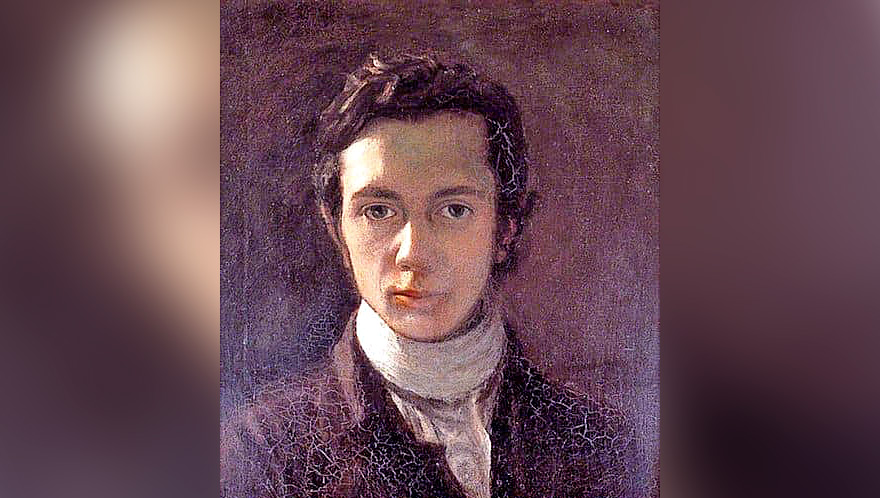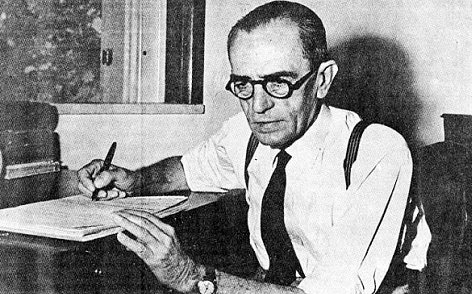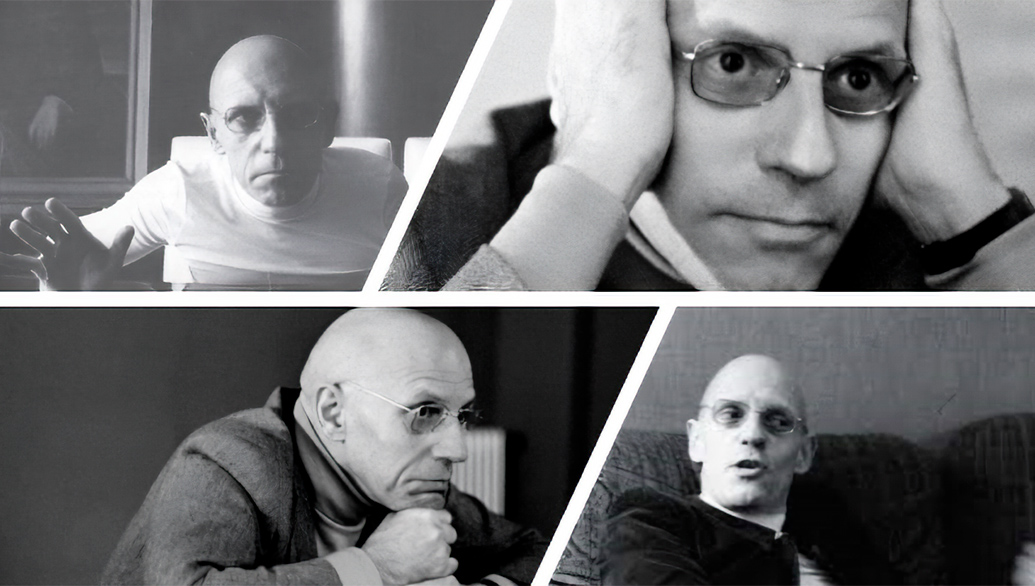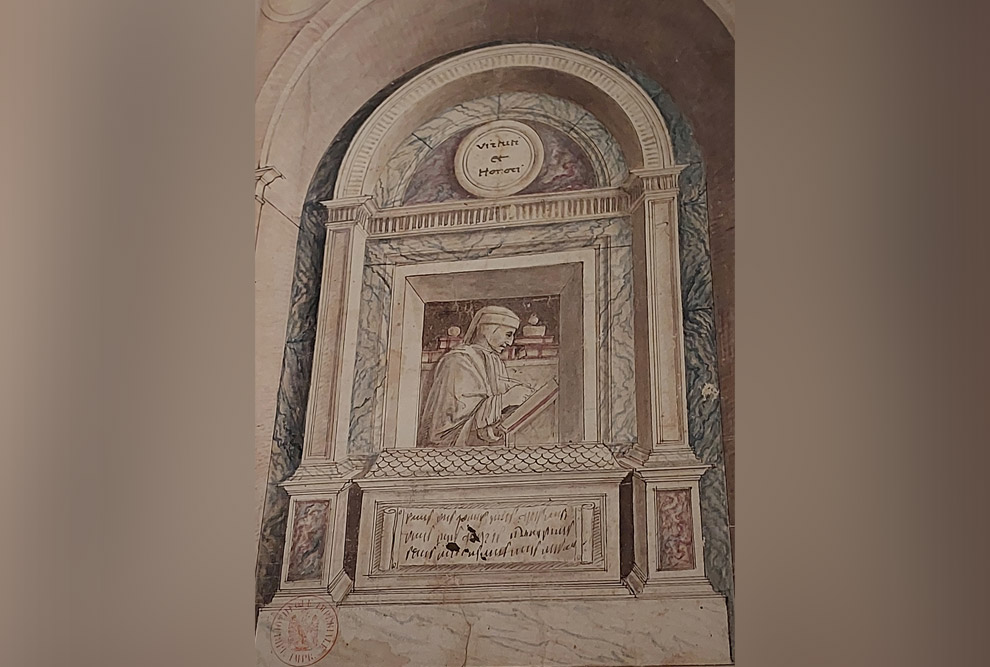Os sofistas gregos inauguraram a reflexão sobre as palavras e sobre o poder que seu manejo calculado confere aos discursos. No “Elogio de Helena”, Górgias absolve a rainha espartana de qualquer responsabilidade pela guerra de Troia – tivesse ela sido persuadida por um discurso, isso equivaleria a um rapto pela força humana ou à submissão a um poder superior. “Pois o discurso é um grande soberano que, com o menor e menos perceptível dos corpos, realiza obras divinas”. Vejam a poesia, por exemplo: “Quem a ouve é invadido por um frêmito carregado de espanto, uma compaixão que provoca lágrimas, um comprazimento na dor.”
Associada, no mundo helênico, a uma performance musical, a poesia seria a evidência máxima do poder encantatório das palavras. Górgias fez fortuna ensinando a construir discursos com apelos rítmicos e melódicos, altamente persuasivos. A imaginação também era sua aliada (seu “Elogio de Helena”, é, naturalmente, uma defesa fictícia). No Banquete, Platão ironiza sua arte, ao mostrar Agatão (um discípulo do famoso sofista), cujo triunfo como autor trágico então se comemorava, desconcertado diante de algumas perguntas pontuais de Sócrates.
O poeta dramático tem parte com o sofista: no Ato III de Júlio César, de Shakespeare, vemos representada de forma primorosa a força da palavra oral, quando as reações às falas de Bruto e de Antônio nos mostram a plebe romana à mercê dos artifícios verbais desses dois oradores adversários.
Queixam-se alguns de que as palavras podem machucar. E quando esse é, precisamente, o objetivo? O abade Cotin, dizem, nunca mais saiu de casa, após Molière ter feito seu retrato em Les femmes savantes. Foi um caso isolado de sátira ad hominem em sua obra, mas, mesmo quando não diretamente aludidos, beatos, charlatães, pedantes e mistificadores em geral costumavam reagir mal a suas peças. Essas reações, logo transformadas em escândalos e proibições, sugerem como os poetas fortes podem desencadear alterações no estado de coisas.
Outras transformações, menos perceptíveis, podem ocorrer diante do texto em sua forma escrita. Essa experiência pressupõe a leitura solitária e silenciosa. Na tradição clássica, tal interação tinha algo de filosófico, ou de exercício espiritual. Cícero (Orator, I, 19) distingue os filósofos dos oradores, descrevendo os primeiros como indivíduos que se dirigem a pessoas esclarecidas “buscando antes acalmar do que excitar suas paixões”. Eles evitam expressões que encantam o povo, pois não querem “nem sublevar, nem espantar, nem seduzir, mas instruir”. Seria antes uma conversação do que um discurso.
Modernamente, mais do que na prosa filosófica, é na poesia e no romance que se pressente essa interação conversacional e meditativa. Contudo, por íntima que seja sua motivação, o escritor reteve algo de sua ligação com o sofista. Como ele, o autor moderno habita as palavras, e não a “realidade”, pois essa “depende dos signos que a exprimem e dos quais cumpre ser mestre (…) em um jogo no qual a nuança adquire dimensões de ídolo e a química verbal atinge dosagens inconcebíveis à arte ingênua.” (Cioran, “O estilo como aventura”).
Frente a esse alquimista do verbo, como entender aquele outro modelo de escritor, e o peculiar consumidor de livros que o sustenta? Lançamentos e eventos levam a livrarias, a feiras e cursos um público interessado não tanto nas obras quanto nas mazelas que elas expõem, ou no autor que seria sua testemunha e avalista. Experiências de trauma e exclusão são expressas a leitores propensos à empatia, paixão fraca entre todas. A literatura se dilui em jornalismo, depoimento e álibi.
O reconhecimento de “vozes” que reivindicam o direito de se expressar lança ao segundo plano aquilo que elas articulam, e de que forma o fazem. Mas o artista da escrita, como o sofista, rejeita a expressão em nome da expressividade. Sentimento e “vivências” não substituem, antes comprometem, a vivacidade e a força das palavras.
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.
Foto de capa: