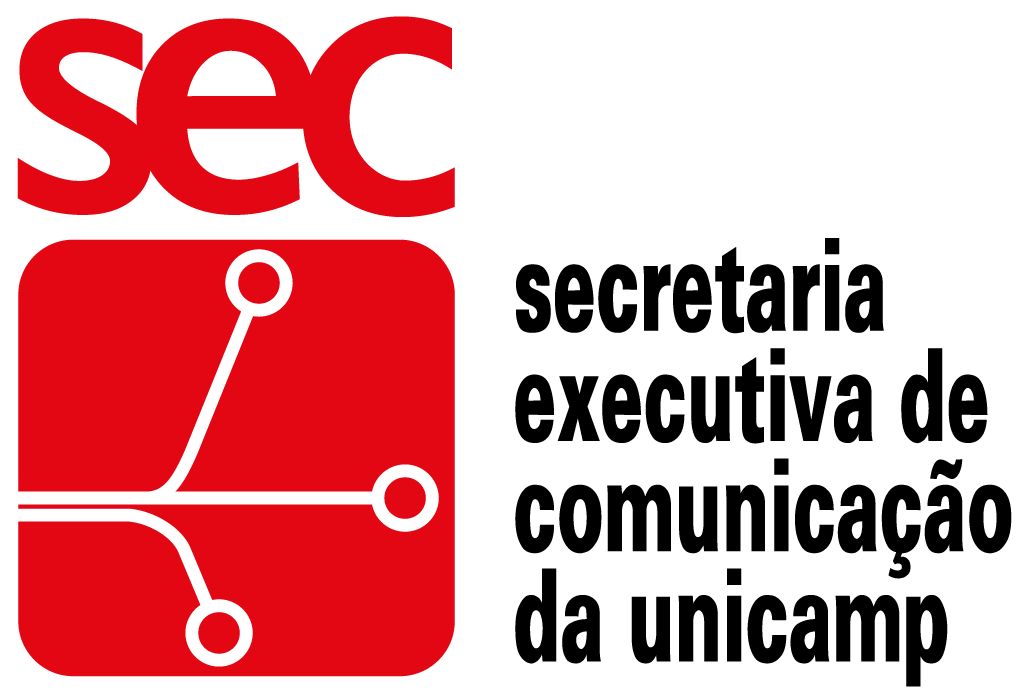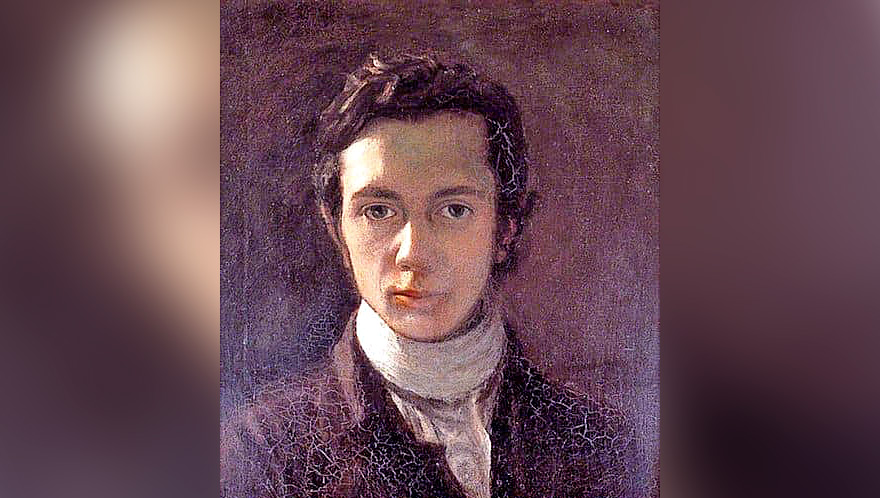Tell all the truth but tell it slant –
(E. Dickinson)
Jorge Luis Borges inicia seu ensaio “Sobre os clássicos” descartando a utilidade da etimologia para a elucidação do conceito. Desdenha, também, definições formuladas por estudiosos consagrados. “Acabo de completar sessenta e tantos anos”, escreve; “em minha idade, as coincidências ou novidades importam menos que aquilo que julgamos verdadeiro”. Expõe, então, uma tese heterodoxa: a de que uma obra torna-se clássica não por méritos intrínsecos, senão pela adesão de determinada comunidade de leitores. Clássico seria, assim, “um livro que gerações humanas, premidas por razões diversas, leem com prévio fervor e misteriosa lealdade”.
Amenizando a audácia do enunciado, dizendo-se desprovido de “vocação para iconoclasta”, ele reivindica, de todo modo, uma condição essencial para uma abordagem proveitosa do assunto: a liberdade de dizer o que pensa, contrariando a opinião geral. Tal liberdade acarreta a responsabilidade de bem sustentar seu enfoque, e – nenhuma dúvida – Borges se mostra à altura dessa exigência. Com uma argumentação característica, apresenta uma rica gama de exemplos penetrantemente examinados, em um notável equilíbrio entre erudição, finura e graça.
Tematizar a própria situação discursiva é cabível quando se pretende enunciar uma convicção contrária à visão comum, colocando em risco a credibilidade do discurso. O procedimento se integra ao artifício retórico da libertas, palavra que traduz o conceito grego de parrhesia – ou “tudo falar”. Com conotações distintas, o termo compõe o vocabulário de outras práticas enraizadas na cultura ateniense: a política e a filosofia. Valor importante da cidade democrática, ela garantia aos cidadãos o direito de se expressar livremente nos tribunais e assembleias. Nos diálogos platônicos, o “dizer verdadeiro” era parte essencial do método dialético, ou daquilo que o sustenta – a amizade filosófica. No Mênon, ao interlocutor que indaga a Sócrates o que ele esperava obter como resposta a suas insistentes perguntas, esse responde: “A verdade”. E acrescenta:
“se aquele que me interroga fosse um desses sábios hábeis em erística e agonística [= disputas intelectuais], dir-lhe-ia: (…) se digo coisas que não são corretas, é tua tarefa proceder ao exame do argumento e refutar-me. Mas, se é o caso, como tu e eu neste momento, de que pessoas que são amigas queiram conversar uma com a outra, é preciso de alguma forma responder de maneira mais suave e mais dialética. Mas talvez o mais dialético seja não só responder a verdade, mas também por meio de coisas que aquele que é interrogado admita saber.”
Michel Foucault abordou amplamente o tema da parrhesia filosófica na Antiguidade. Em A coragem da verdade, ele a define como um “franco-falar”, oposto à dissimulação, à lisonja e à própria retórica. Seria “uma modalidade de dizer a verdade”, distinta de outras, como a do professor, cujo vínculo é com a tradição. Como notou Foucault, o objeto da parrhesia socrática não é o logos, mas o bios, as mudanças que a razão opera na vida do interlocutor. Entre os epicuristas, a parrhesia também se inserirá no universo da amizade filosófica. A palavra livre do mestre confere aos discípulos “a possibilidade, o direito, a obrigação de falar livremente”.
Aristóteles vincula a parrhesia à grandeza de alma. O magnânimo explicita seus ódios e suas amizades, preocupando-se com a verdade, não com a opinião. “Sua fala é franca porque despreza as contrariedades que esta poderia lhe trazer.” Esse desprezo da opinião será a característica maior dos cínicos, cuja vida de liberdade devia ser ostentada, em gestos e palavras, como escândalo público. Os riscos, aí, não são para a credibilidade de uma causa, mas para a vida de quem enuncia a verdade. A filosofia era um “ofício perigoso”. Na Atenas democrática, sustentar visões contrárias à opinião popular podia render acusações de imoralidade, e a Sócrates a cidade imputará o crime de impiedade. O ódio que granjeia entre aqueles cuja pretensa sabedoria examina e desmascara é mencionado na Apologia – discurso que não o livrou da condenação.
Diz Foucault que a parrhesia não prevê uma arte, embora possa conter elementos dela. Nas cartas de Sêneca, a parrhesia é uma forma de discurso: o sábio deve mostrar o que experimenta de maneira transparente, sem ornamentos ou dramaticidade. Seria a famosa arte de esconder a arte? Do ponto de vista da conduta, haveria, talvez, uma arte de se deixar levar por aquilo que, em nossa natureza, nos inclina a falar de modo franco. Montaigne (“Do útil e do honesto”) dizia que seu jeito naturalmente aberto representava uma vantagem, descrevendo-o como “fácil de insinuar-se e de obter crédito nos primeiros contatos”. Sua liberdade, aliás, o teria livrado da suspeita de fingimento, por ter “um aspecto evidente de simplicidade e de despreocupação”.
Montaigne recusa a ideia de uma naturalidade simulada apenas por julgá-la pouco plausível, e não se ofende quando enxergam, na sua, um elemento de cálculo. Vivendo em um período de guerras civis, ele declara: “Defenderei a causa certa até a fogueira, mas com a exclusão desta, se possível.” A coragem da palavra flerta com os riscos da morte, mas prefere as possibilidades da vida. “Uma fala aberta abre uma outra fala e a atrai para fora, como o fazem o vinho e o amor”. Socorrendo-se da arte da prudência em contextos hostis, essa franqueza natural pode compor bem com o método socrático, naquilo que esse tem de interrogativo, irônico, amistoso e didático. Até mesmo para garantir sua eficácia iluminadora junto aos próximos. Como escreveu a poeta norte-americana Emily Dickinson, a verdade deve deslumbrar gradualmente, ou ela pode cegar.