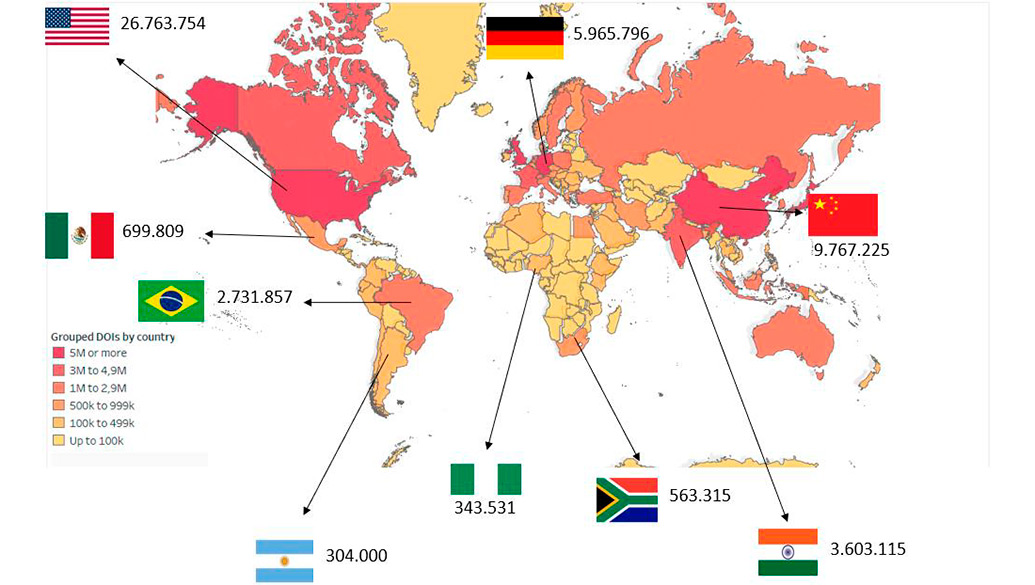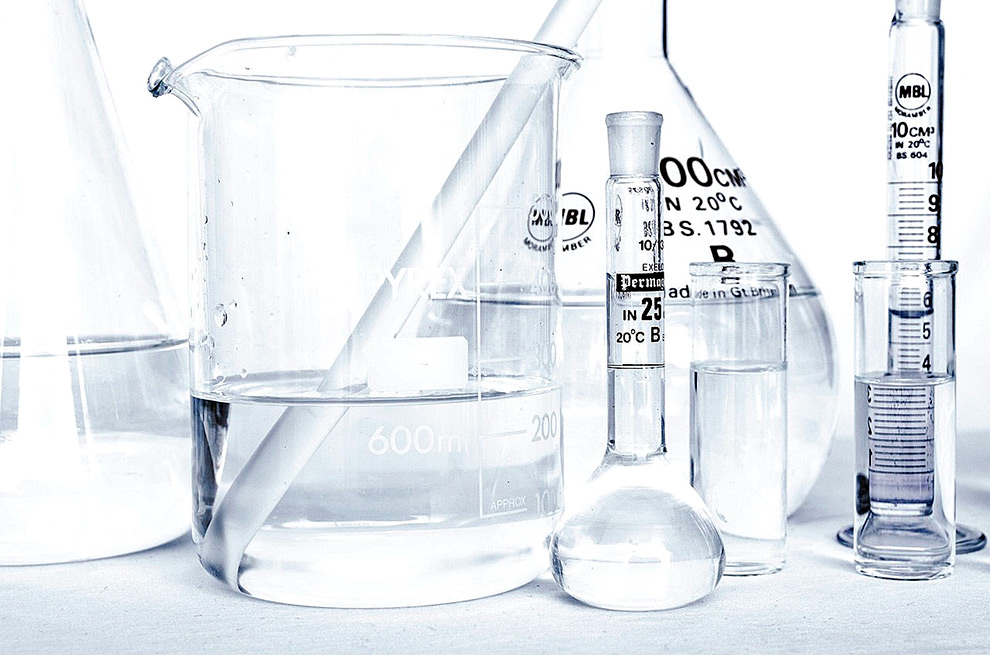Nos primeiros meses de 2025, o recém-empossado governo estadunidense vem adotando uma série de medidas endereçadas – literalmente, por meio de cartas – às universidades, de todos os portes e famas.
A principal questão até agora apresentada é a exigência de adoção, por parte das universidades, de controles sobre perfis e atividades de docentes, pesquisadores e estudantes. Os dois principais pontos levantados nas cartas enviadas pelo governo às universidades são o controle de manifestações identificadas como antissemitas e de pesquisas científicas e práticas administrativas e gerenciais relacionadas à diversidade, equidade e inclusão (DEI).
Dito de outra forma, seriam as manifestações pró-Palestina e a ideologia woke que, na visão do governo, estariam desvirtuando o papel das universidades e ameaçando valores estadunidenses, inclusive pela suposta subordinação do mérito a questões sociais e culturais.
Segundo cartas que vieram a público (pode-se ver algumas delas aqui), as universidades estariam falhando em coibir manifestações antissemitas e malversando dinheiro público federal com pesquisas e medidas administrativas relacionadas com a DEI e a ideologia woke (este, um termo usado há bastante tempo, mas que recentemente ganhou impulso e ampliou significado para quase tudo que se refira à defesa de grupos excluídos e marginalizados, normalmente atribuídos a movimentos de esquerda).
As cartas de resposta das universidades variaram de conteúdo. Algumas cedendo às exigências em troca da manutenção do financiamento federal; outras, com destaque ao que fez Harvard, contestando e refutando as demandas governamentais.
Um manifesto de 22 de abril de 2025, assinado por mais de 340 presidentes, vice-chancelors e ocupantes de outros cargos administrativos de universidades estadunidenses, rejeita a intervenção na governança das universidades, mas faz um apelo à negociação. Um trecho traduz, em minha opinião, o espírito do manifesto:
“Estamos abertos a reformas construtivas e não nos opomos a uma supervisão governamental legítima. No entanto devemos nos opor à intrusão indevida do governo na vida daqueles que estudam, vivem e trabalham em nossos campi. Sempre buscaremos práticas financeiras eficazes e justas, mas rejeitamos o uso coercitivo do financiamento público para pesquisa”.
Não se sabe o que quer dizer “supervisão governamental legítima”. A última parte do manifesto dá uma pista: “Em nome de nossos atuais e futuros estudantes, e de todos os que trabalham em e se beneficiam de nossas instituições, fazemos um apelo por um engajamento construtivo que fortaleça nossas universidades e sirva à nossa república”.
Levantam ao mesmo tempo uma bandeira vermelha e uma amarela. A amarela pode também ser interpretada como branca. O governo foi para cima das universidades e essas começam a refutar as investidas, mas também a acenar negociação.
Não sabemos, ninguém sabe dizer, os desdobramentos dessa mudança de postura do governo em relação às universidades. Talvez impacte muito, talvez pouco. Mas creio que algumas mudanças deverão acontecer. Transparece, pelas notícias diárias e abundantes sobre esse assunto, que a questão de fundo é um mal-estar de parte da população estadunidense e de seus representantes políticos para com as universidades – e do que elas representam. Admiração e rejeição estão se distanciando e, na melhor das hipóteses, ganhando pesos semelhantes.
O que nos interessa mais aqui é como isso vai se desdobrar e quais reflexos essa política de avanço sobre a autonomia administrativa e acadêmica (afinal, é disso que se trata) terão sobre o Brasil.
As universidades brasileiras também vêm sendo alvo de desconfiança e descrédito por uma parte nada desprezível da população. Há por aí sites, blogs e grupos em redes sociais especializados em detratar as universidades, em particular as públicas.
É verdade que já estiveram mais expostas há alguns anos do que estão hoje, especialmente nos períodos imediatamente anterior e posterior à pandemia. O governo federal, durante aquele período, também avançou sobre a autonomia das universidades públicas e usou o arrocho orçamentário como “argumento”.
Exemplos semelhantes encontram-se em vários países. Fica a pergunta: estaríamos entrando em uma “cheia” de um novo conservadorismo, tanto cultural quanto econômico, que enxerga outros rumos para as universidades?
Um exercício prospectivo simples de cenarização do que pode acontecer no futuro próximo (cinco anos), feito com a ajuda instantânea de uma ferramenta de IA, ajuda a pensar o que pode acontecer nos Estados Unidos e os possíveis rebatimentos por aqui. Nesse exercício bem simples, empreguei apenas três incertezas críticas[1]: autonomia (política e acadêmica); financiamento; e impacto social.
Três cenários foram propostos pela ferramenta e por mim revisados (os títulos dos cenários são de minha autoria):
Cenário “Revisão pelos pares”: fortalecimento da autonomia, financiamento e credibilidade. Nesse cenário, vivamente otimista, as universidades de pesquisa estadunidenses vivenciam uma renovação do apoio e da confiança pública até 2030. Os principais fatores incluem um clima político favorável que protege a liberdade acadêmica, um reinvestimento no ensino superior pelos governos federal e estaduais e o sucesso demonstrável das universidades em enfrentar desafios sociais. O resultado é um “ciclo virtuoso” de alta autonomia, financiamento robusto e maior impacto social. Em consequência, a atual cheia retrairia, esvaziando também movimentos em outros países, incluindo o Brasil.
Para que isso aconteça é preciso uma mudança radical da política atual. Não é impossível! Vai depender dos rumos sondáveis à frente. Uma reação organizada por parte das universidades e respaldada por elites intelectuais, econômicas e tecnológicas daquele país poderia frear o movimento que ora assistimos. Baixa probabilidade, eu sei, mas cenários não se assentam em probabilidades e, sim, em possibilidades.
Cenário “Revisão pelos ímpares”: é um cenário pessimista, no qual a crescente interferência política e as pressões financeiras minam o modelo tradicional da universidade de pesquisa dos Estados Unidos. Em 2030, as universidades se veem limitadas por controles externos e lidando com severas limitações de recursos, em geral resolvidas por contratos com empresas em certos setores. As três incertezas se refletem negativamente: a autonomia institucional é corroída, o financiamento cai drasticamente e a confiança pública perde relevância. Constrói-se um ambiente de reorganização do ensino e da pesquisa voltado mais a objetivos imediatos que à produção e disseminação de conhecimento.
Os impactos por aqui e em outros países seriam, provavelmente, altos, reforçando a cheia conservadora e mudando drasticamente o rumo das coisas. Isso dependerá fortemente do contexto político que teremos à frente – algo, hoje, impossível de anunciar.
Se alguém fosse atribuir uma probabilidade a esse cenário – coisa que, é bom repetir, não deve ser feito nessa metodologia prospectiva –, ela até poderia ser baixa, mas não tão baixa quanto a do primeiro cenário, já que os primeiros passos estão sendo dados nessa direção. Sendo possível e impactante, merece nossa atenção.
Cenário “Pares e ímpares”: nesse cenário, as universidades de pesquisa navegam por um caminho intermediário em meio às incertezas que vêm assomando o mundo acadêmico, tendo que ampliar sua capacidade adaptativa, especialmente no que diz respeito aos níveis de autonomia, fontes e meios de financiamento e engajamento com a sociedade. O cenário até 2030 é misto: as pressões políticas persistem, mas as universidades aprendem a administrá-las, o financiamento público fica limitado, forçando novas fontes de receita, e as instituições têm que trabalhar árdua e persistentemente para demonstrar seu valor social. O resultado é um setor de ensino superior remodelado, mais voltado para o mercado, demandas locais e regionais e parcerias com diferentes segmentos da sociedade, sacrificando parte da autonomia tradicional, mas mantendo a relevância por meio de compromissos pragmáticos e inovação.
As implicações para países como o nosso, com tradição de universidades de pesquisa acostumadas ao modelo ocidental (agora também global) de geração e uso de conhecimento, seriam igualmente altas, com custos para o modelo atual e para a construção de uma visão modificada de autonomia, financiamento e impacto.
Do não recomendável – mas inevitável – cálculo probabilístico que estamos acostumados a fazer, esse cenário parece, em bases subjetivas, o mais provável. Implicaria mudanças na estrutura de governança, para usar um termo geral que, se quisermos, abrange quase tudo de importante da estrutura organizacional e gerencial e mesmo do modelo institucional.
Como ensina a história, cenários são exercícios que ajudam a olhar para um horizonte amplo de possibilidades. Não são categóricos. O futuro, muito provavelmente (e aqui probabilidades são aceitas, porque não se estaria excluindo nada de importante), será uma combinação de pontos dos diferentes cenários.
Se isso for verdade, temos aí um pequeno e incompleto ponto de partida para começar a rediscutir o que temos que fazer para – como dizem os signatários do manifesto coletivo das universidades estadunidenses acima comentado – ampliar um “engajamento construtivo que fortaleça nossas universidades e sirva à nossa república”.
Essa discussão precisa ser trazida para dentro das universidades brasileiras. Ela tem sido ofuscada por pautas corporativas, quase sempre de curto prazo que, urgentes que são, acabam por relegar a planos inferiores o que, de fato e de direito, deveria estar no topo das preocupações.
Que tal instituirmos pautas estratégicas e permanentes dessa natureza nos principais colegiados de nossa organização universitária?
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp
[1] Incertezas críticas em exercício de cenários futuros são aquelas variáveis cujos comportamentos no futuro podem alterar de forma importante os rumos das coisas.