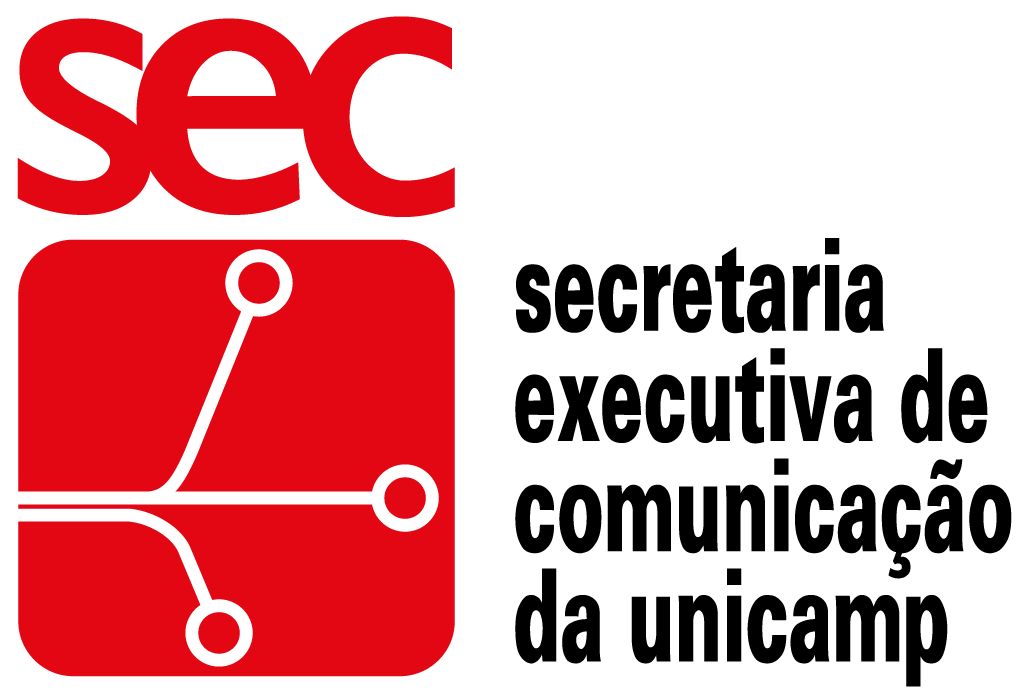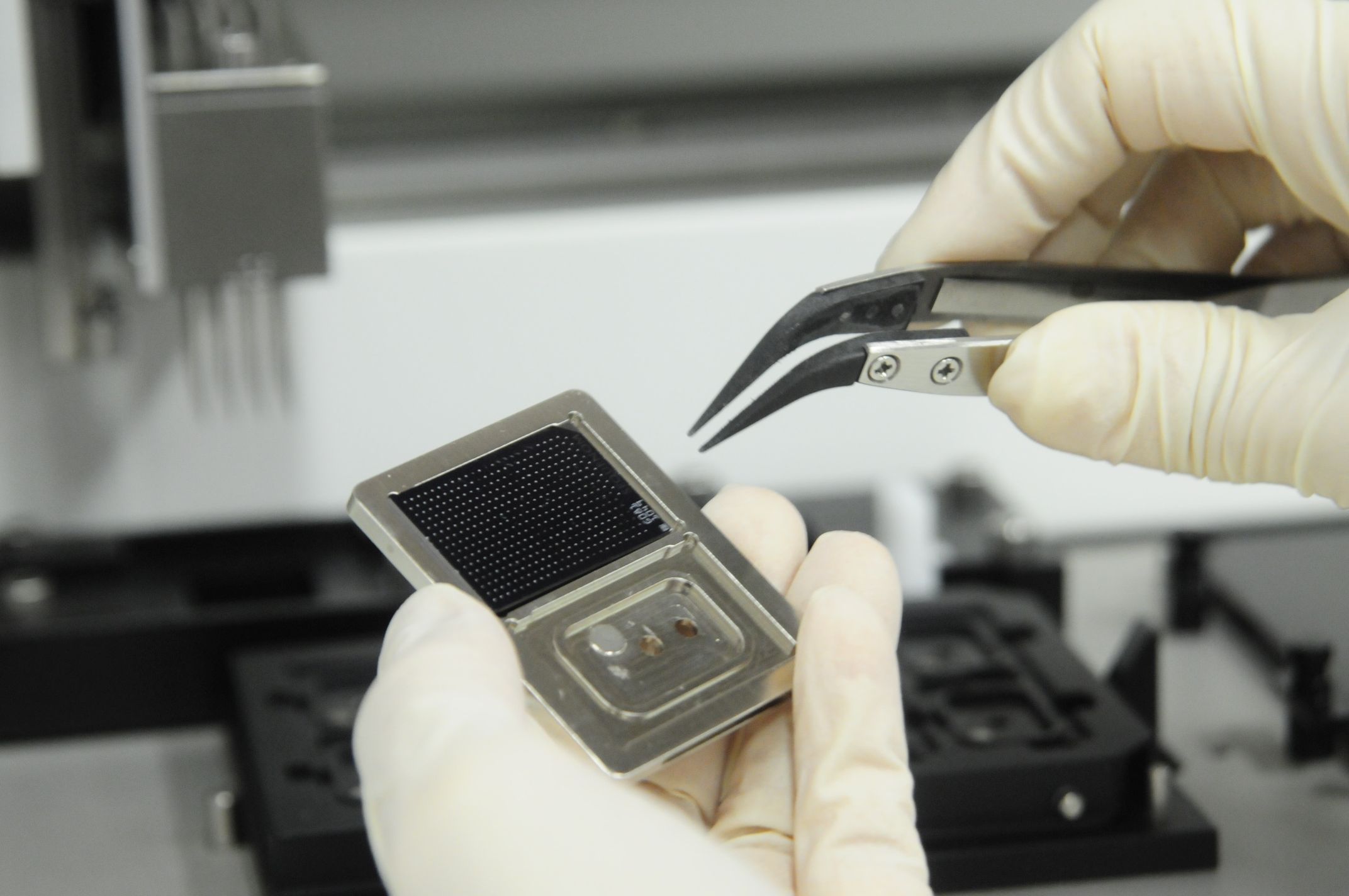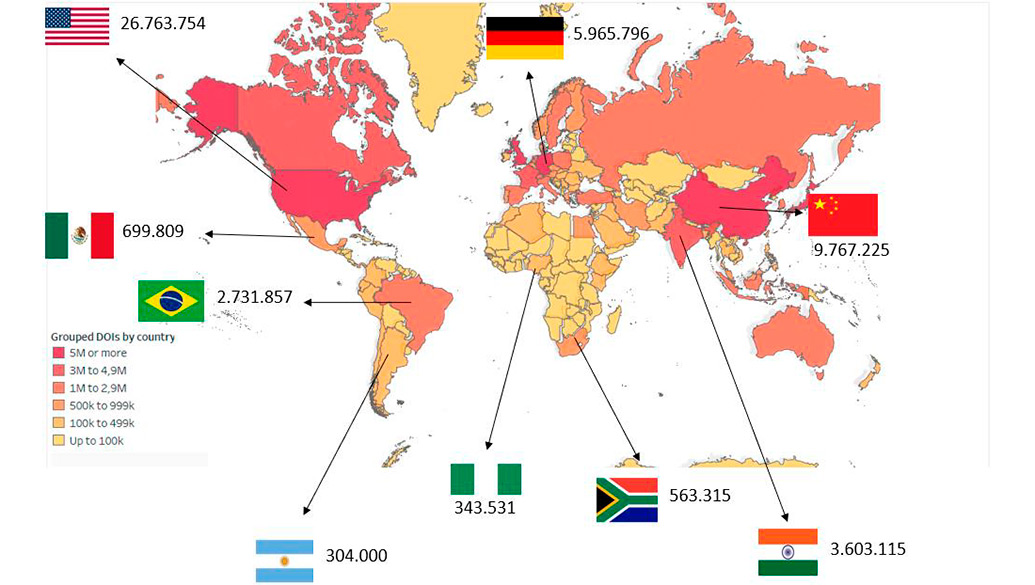Como ampliar a capacidade de inovação no Brasil e posicionar o país na liderança de áreas importantes como Amazônia, clima e energia renovável – só para citar três exemplos atuais e interlaçados? Essa pergunta vem sendo feita de forma recorrente há pelo menos 60 anos, com mais ênfase nos últimos 25 anos, desde a criação dos fundos setoriais no fim dos anos 1990 e início dos 2000.
Dentre os inúmeros instrumentos de fomento para tornar rotineiras e potentes as conexões entre ciência e inovação, encontra-se a assim chamada pesquisa “orientada por missão”, conceito sobre o qual trata este texto. Hoje a pesquisa orientada por missão volta a ganhar relevância em agendas governamentais e empresariais e pauta a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI).
A ideia básica é que, se montarmos programas de pesquisa direcionados a uma finalidade específica, em geral estratégica para um país ou um governo, teremos foco, entenderemos melhor como fazer as conexões e chegaremos mais rápida e efetivamente ao resultado pretendido. Novos bens e serviços seriam disponibilizados com mais rapidez, setores econômicos e segmentos sociais seriam fortalecidos, e o país estaria na fronteira, sendo reconhecido pelo que fez.
Faz sentido. Um dos programas mais mencionados quando se fala nesse tipo de pesquisa são as missões da Nasa nos anos 1960, 1970 e seguintes. O termo Technology Readiness Level (TRL, na sigla em inglês), com seus nove níveis de prontidão tecnológica, por exemplo, teria sido criado para facilitar a gestão de projetos que saem de princípios básicos (incluindo pesquisa básica) e chegam à missão realizada (um ser humano na lua). Em alguns países, esses programas são, não por coincidência, chamados de moon shot.
São necessários muitos passos e competências para executar missões que saem de princípios e chegam aos fins. Daí a importância de metas intermediárias e finais sob forte governança. Essa lógica foi transferida para agências de fomento especializadas em pesquisa para inovação. O caso mais conhecido é o do modelo Advanced Research Projects Agency (Arpa, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que começou pela área de Defesa e evoluiu para outras, como Energia e Saúde. O Arpa se disseminou e virou referência, a ponto de um editorial da Nature publicar na seção de notícias, em 2021, um texto intitulado “The rise of ‘ARPA-everything’ and what it means for Science”.
Concordamos que a corrida tecnológica precisa cada vez mais de organização e de objetividade, uma convicção quase unânime entre governos. Quase, pois, em muitos países, especialmente naqueles menos desenvolvidos ou de economias intermediárias, o que mais se vê é uma grande dispersão de recursos de pesquisa e o uso indiscriminado do adjetivo “estratégico”. É a comunidade cuidando dela mesma, sempre com bons argumentos. Vale, então, examinar o que de fato significa ter políticas e modelos orientados por missão.
Na verdade, as interpretações são flexíveis. Em comum, tais políticas e modelos deveriam ter, como espinha dorsal, o atingimento de metas cumulativas e verificáveis até se chegar ao objetivo maior, o moon shot. Produtos intermediários e finais deveriam ser identificáveis e mensuráveis, seguindo um caminho lógico, passível de monitoramento, passando por diversos estágios nos quais a pesquisa atua de forma mais ou menos central.
A questão é que, ao longo dos anos, o conceito foi afrouxado, bastando uma boa justificativa da relevância do objeto e um volume maior de recursos para que quase tudo pudesse ser, direta ou indiretamente, classificado como orientado por missão. Houve uma banalização do termo, muitas vezes confundido com “programas de pesquisa” em áreas estratégicas, que até poderiam ser orientados por missão, mas que, para isso, deveriam ter metas compartilhadas e auditáveis e governança adequada, coisa que, em geral, não têm.
No Brasil, contam-se centenas de programas que se julgam orientados por missão, mal definidos quanto às metas e às formas de alcançá-las. Quase nunca sabemos se as “missões” foram bem-sucedidas e por quê. Hoje, com a volta do tema ao centro das discussões de políticas de CTI, é preciso ter cuidado com a banalização e retomar a essência do conceito.
Um interessante artigo de Wittmann et al. (2021),[1] examinando as muitas acepções de “Mission Oriented Policies”, propõe três variáveis principais a serem consideradas:
- a motivação: se orientada a problemas ou a soluções, para saber se a solução já foi identificada ou ainda está na fase de problema;
- a importância relativa da pesquisa e da inovação, se alta ou média, porque há missões mais ou menos baseadas em desenvolvimento científico e tecnológico; e
- as exigências de governança e monitoramento, se baixas ou altas, para que a missão possa ser levada a cabo com sucesso.
Do cruzamento dessas variáveis, chega-se a vários modelos. Todos são válidos, desde que respeitem um ponto central, que realmente diferencia o conceito: objetivos e metas claras e auditáveis, com monitoramento e governança acontecendo, levando a ajustes e influenciando rumos.
É importante que quem estiver à frente do desenho dessas políticas no Brasil valha-se dessa essência da pesquisa orientada por missão e, com isso, garanta auditoria e controle das etapas e conquistas nas quais a missão se estrutura, apresentando um modelo capaz de levá-la a cabo. Por mais que, para alguns, isso possa parecer distante do mundo da pesquisa, é essa essência que evita que tudo possa ser classificado como orientado por missão e que nada acabe, na prática, entregando uma missão cumprida.
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.
[1] Florian Wittmann, Miriam Hufnagl, Ralf Lindner, Florian Roth and Jakob Edler. Governing varieties of mission-oriented innovation policies: A new typology. Science and Public Policy, 2021, 48, 727–738. DOI.