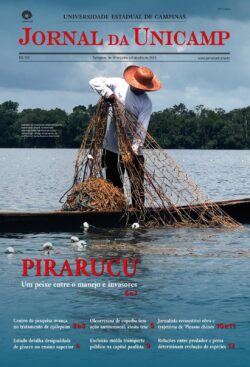Os
caminhos
da exclusão
Os
caminhos
da exclusão
Tese mostra como oferta de transporte público na Região Metropolitana de São Paulo evidencia a desigualdade social
Por trás de ônibus cheios, estações de trem abarrotadas ou metrôs lotados, por trás de congestionamentos que se estendem por quilômetros, há um padrão histórico de exclusão que molda os deslocamentos na maior metrópole brasileira. É o que mostrou uma pesquisa de doutorado da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (Fecfau) da Unicamp após analisar dados de quatro décadas sobre a mobilidade dos moradores da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
“O transporte público foi se tornando cada vez mais deficitário, e isso alimenta um círculo vicioso: quanto mais ineficiente ele se torna, mais pessoas optam pelo transporte individual, o que piora o tráfego e piora ainda mais a experiência do transporte coletivo”, afirmou o engenheiro civil João Augusto Dunck Dalosto, docente da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e autor da tese.
Sob orientação do professor Pedro Jose Perez-Martinez, que pesquisa há mais de 25 anos as questões envolvendo a mobilidade, a transição energética, o meio ambiente e as mudanças climáticas, o estudo de Dalosto revela um panorama detalhado sobre como a infraestrutura de transporte responde – ou deixa de responder – às necessidades da população e como influencia na ampliação da desigualdade social e territorial. O estudo também aborda os impactos da falta de investimentos suficientes na área.
Entre as principais conclusões da pesquisa está o aumento significativo da multimodalidade dentro do período analisado – entre 1977 e 2017 –, um dado que subsidiou conclusões importantes. A multimodalidade é o uso de mais de um modo de transporte para chegar a um destino.
De acordo com a pesquisa, o transporte por trilhos mostra-se significativamente mais eficiente que o transporte por ônibus. “O trilho oferece maior velocidade, menos transferências e mais confiabilidade. O ônibus, por outro lado, apresentou as piores estimativas, especialmente nas regiões onde há uma necessidade maior de trocas de veículo”, explicou o pesquisador.
Porém, embora seja a melhor opção, o sistema sobre trilhos perde presença conforme se distancia da região central de São Paulo, revelando as limitações da infraestrutura de transporte na RMSP. “A grande maioria dos usuários de trilhos mora longe das estações. A multimodalidade se consolidou como uma estratégia por causa disso: as pessoas pegam um ônibus até uma estação para seguir o percurso de metrô ou trem. Isso mostra a importância do modo trilhos para regiões muito além da sua cobertura direta”, disse o engenheiro civil.
Para chegar a essa conclusão, Dalosto adotou abordagens não tradicionais sobre a Pesquisa Origem-Destino (OD) – realizada periodicamente pelo Metrô de São Paulo. Ao contrário de outros estudos, que consideram apenas o “modo principal” das viagens a fim de chegar a conclusões, a pesquisa desagregou os dados em primeiro e segundo modos, revelando com precisão o uso combinado de diferentes meios de transporte. Essa metodologia permitiu identificar que muitos trajetos classificados simplesmente como “metrô” frequentemente incluem longos percursos de ônibus até as estações.
Além de contemplar mais de um “modo” de transporte como inovação metodológica, o doutorado também propôs uma nova divisão territorial, substituindo as fronteiras político-administrativas oficiais por três “anéis” baseados na centralidade funcional: o centro expandido, uma região intermediária e a periferia mais afastada. Essa abordagem permitiu identificar comportamentos distintos no uso dos transportes em cada zona.
A pesquisa constatou ainda que nas regiões periféricas, com pouca ou nenhuma cobertura ferroviária, o uso do transporte individual cresceu significativamente no período analisado, com destaque para o uso de motocicletas. “Esses são os lugares com renda média menor e com menos oferta de transporte público estruturado. A moto surge como uma alternativa barata, apesar dos riscos”, afirmou Dalosto.
O orientador chama atenção para um viés comportamental envolvido nesse quadro: “As pessoas que estão subindo de renda nas periferias apostam no transporte individual. Elas fogem do transporte público, especialmente nas periferias, porque o transporte não é de qualidade”.


Promessas ao vento
O estudo descobriu também que, apesar do crescimento urbano acelerado, a concentração dos empregos na região central permaneceu praticamente inalterada nas últimas décadas. “A correlação entre o distanciamento das zonas de transporte e a concentração de emprego continua muito forte. Isso mostra que as propostas de descentralização feitas em diferentes eleições e planos diretores ainda não se concretizaram”, destacou o pesquisador.
De acordo com Dalosto, a infraestrutura axial – focada nos deslocamentos rumo ao centro da metrópole – desenvolveu-se muito aquém do necessário, enquanto a população se espalhou pelas periferias, em alguns casos devido ao processo de gentrificação de bairros centrais. Essa discrepância aumentou as distâncias médias percorridas e contribuiu para a deterioração do serviço de transporte público.
Perez-Martinez corrobora as conclusões de seu orientando e faz críticas à política urbana recente. Segundo o orientador, os planos diretores de São Paulo, que visam densificar as regiões centrais para estimular o uso do transporte público, acabaram favorecendo a especulação imobiliária. “O que se vê é a construção de prédios voltados à classe média-alta em bairros como Pinheiros, sem um aumento real da densidade populacional. O que está acontecendo é uma gentrificação. Certas pessoas estão sendo expulsas para a periferia, onde o preço dos imóveis é bem menor e aonde não chegaram as novas linhas de metrô.”
Outro dado importante apresentado no doutorado revela que o transporte pendular – de casa para o trabalho ou para um local de estudo – aumentou em participação, enquanto o transporte por motivos de lazer diminuiu. “Isso evidencia uma pressão maior sobre os deslocamentos cotidianos, o que pode afetar diretamente a qualidade de vida da população”, observou o engenheiro.
Após concluir o doutorado, o pesquisador trabalha para publicar artigos científicos resultantes da tese e pretende repassar as conclusões de seu estudo para gestores de política pública. “A pesquisa tem potencial para subsidiar políticas públicas. Recebi incentivo de colegas para compartilhar os dados com secretarias de transporte, urbanismo e mobilidade. Mas sabemos que, no fim, tudo depende de haver vontade política”, afirmou.
Segundo Perez-Martinez, mostra-se urgente a necessidade de elaborar políticas públicas mais robustas e de haver mais investimentos na mobilidade urbana. “Ficamos preocupados ao ver que São Paulo pode deixar de ser uma referência em mobilidade na América Latina. O futuro da mobilidade urbana passa por soluções mais democráticas, sustentáveis e modernas. E isso exige planejamento e investimento.”