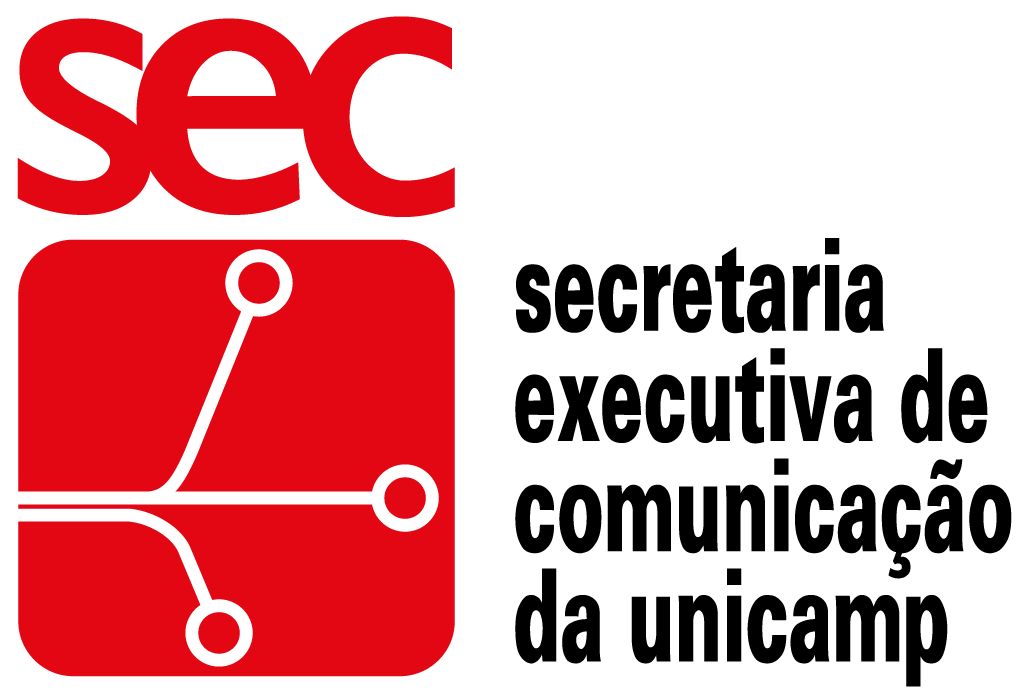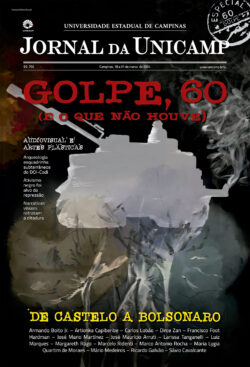Testemunhos
Francisco Foot Hardman
Arte evoca e preserva a memória da resistência contra desmandos
A importância das manifestações artísticas e as semelhanças entre a ditadura e o governo Bolsonaro
Paula Penedo
O professor Francisco Foot Hardman nunca foi preso ou torturado pela ditadura militar, mas testemunhou de perto o clima de ameaça e repressão por parte de um regime “avesso ao conhecimento e à ciência”. Estudante universitário em pleno governo do general Emílio Garrastazu Médici, ele testemunhou a prisão de vários colegas do Centro Acadêmico do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), onde cursou, no início da década de 1970, o bacharelado em Ciências Humanas – antigo curso interdisciplinar que conjugava a formação em áreas como história, filosofia, economia e linguística.
Apesar disso, relata, o espaço acadêmico de Campinas mostrou-se relativamente seguro quando comparado com universidades mais antigas e conhecidas, como a Universidade de São Paulo (USP), bastante visada pelos militares. Deu-se assim sua participação, ainda na graduação, no primeiro grupo de trabalho que pôde ter acesso aos documentos do movimento operário guardados no Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), recém-adquirido por seu orientador, o professor Paulo Sérgio Pinheiro. O mestrado em Ciência Política, durante o qual continuou trabalhando com os materiais do AEL, resultou na publicação do livro Nem pátria, nem patrão!, que acaba de ser relançado em uma quarta edição revista e ampliada e que trata, entre outros assuntos, das linhas de conexão entre a ditadura e o governo de Jair Bolsonaro.
Nesta entrevista, o agora docente de teoria e história literária no Instituto de Estudos Literários (IEL), aborda como a literatura e a arte em geral podem ser uma ferramenta para a preservação da memória sobre a luta contra a ditadura, as semelhanças entre o regime militar e o período político atual, as estratégias utilizadas pelos artistas para superarem a censura militar e os impactos do excesso de informação à disposição nos dias de hoje.

Jornal da Unicamp – O senhor se formou em ciências sociais, fez pós-graduação em ciências políticas e filosofia, mas agora atua no ensino de teoria e história literária. Como ocorreu essa transição?
Francisco Foot Hardman – Em boa parte, isso se explica por essa formação interdisciplinar ainda na graduação, graças ao professor Fausto Castilho, o primeiro diretor e formulador das linhas gerais desse projeto na área de humanidades. Mas, durante o mestrado em Ciência Política, eu fiz em caráter optativo uma matéria na USP, na área de letras, com o professor Antonio Candido, sobre a leitura ideológica dos textos literários, e isso incentivou muito a minha transição das ciências sociais para os estudos literários. Mais ou menos entre 1980 e 1987, eu trabalhei na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, em um programa interdisciplinar intitulado Política e Trabalho no Brasil. No entanto, nesse meio tempo, surgiu a possibilidade de eu prestar um concurso para o Departamento de Teoria e História Literária do IEL, e vários colegas me incentivaram a participar desse processo.
JU – A edição comemorativa de 40 anos do seu livro Nem pátria, nem patrão! aborda as conexões existentes entre o período militar e o recente governo Bolsonaro. O senhor pode comentar um pouco quais são as conexões entre esses dois períodos?
Francisco Foot Hardman – Posso comentar a partir do último ensaio dessa nova edição, intitulado “Em que ano nós estamos? Em que ano nós estamos?”. Esse texto nasceu de um evento organizado pela direção do IEL em 2021, do qual participei juntamente com os professores João Quartim e Marcelo Ridenti e em que eu trabalhei justamente com o tema da memória. No texto, eu cito uma militante que não conheci pessoalmente, mas que é bastante famosa, a Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente presa e torturada na chamada Casa da Morte, em Petrópolis [RJ].
Já no século 21, ela foi atacada dentro de sua casa porque era a única testemunha daquele lugar sinistro, porque levou jornalistas e advogados para verem o local e porque deu nome aos seus torturadores. Então ela era uma testemunha perigosa do ponto de vista desses grupos que, lamentavelmente, continuam organizados. E tentaram matá-la. E ela, mesmo com sequelas neurológicas do ataque que sofreu, depôs na Comissão Nacional da Verdade. Eu retomei essa história, junto com a de outro militante cujo nome de guerra era Maurício, preso e morto devido à tortura que sofreu em São Paulo, em 1974, e que permanece como um dos muitos desaparecidos da ditatura.
Isso tudo para dizer justamente que a gente deve voltar a essa memória, inclusive na condição de professores, porque ela deve iluminar o nosso presente no sentido de que essas coisas não se repitam. No Brasil, hoje, grupos organizados, tendo à frente o governo anterior [Bolsonaro], estavam fazendo elogios à e tentando repetir a ditadura. E isso se verificou muito claramente nessa tentativa frustrada do golpe de 8 de janeiro de 2023.

JU – De que maneira a literatura pode contribuir para a sobrevivência dessa memória?
Francisco Foot Hardman – Eu não acho que a literatura de testemunho, por si só, salve esses dilemas do esquecimento histórico. Acho que o trabalho de história e historiografia é imprescindível. Agora mesmo nós estamos realizando um trabalho de história oral junto ao Centro de Documentação e Memória (Cedem) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) com militantes da época da ditadura e que hoje já são idosos e têm muito boa memória, muito o que dizer. Porém, no plano da arte, além da literatura, eu chamo especial atenção para o teatro que, no Brasil, foi e ainda é muito importante nesse sentido. O teatro operário teve muita força no Brasil no fim do século XIX e começo do XX e hoje a gente conta com os teatros da periferia, os grupos musicais, o cinema documentário, que acho serem linguagens fundamentais. E, durante a ditadura militar, o teatro político, muitas vezes sob a forma de sátira, desempenhou papel importantíssimo.
No entanto acredito que as obras de arte conseguem trazer vida para esses personagens que já não podem mais falar, que foram vítimas diretas da repressão. A dramatização dessas experiências pode ser uma linguagem importante para a juventude atual.
Eu vejo as gerações mais jovens muito desinformadas sobre a ditadura, mas elas manifestam muito interesse pelo tema. Entre 2014 e 2015, por ocasião dos 50 anos do golpe, eu ofereci cinco disciplinas no IEL sobre as memórias da época da ditadura e foi impressionante o interesse dos alunos por esses temas, tanto do IEL quanto de outros institutos. A partir dessa experiência, fiz uma parceria com o professor Alcir Pécora que resultou em um artigo publicado na revista ComCiência, do Laboratório em Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), intitulado “A Ditadura Militar Revisitada” [n. 167, abril 2015]. E lá colocamos uma ampla relação de obras de literatura, cinema e teatro que abordam a ditadura militar. Essa é a nossa missão, como educadores. Acho que a universidade deve estar sempre a serviço da informação. Portanto, contra a censura e a desinformação.
JU – O senhor afirmou que as gerações mais novas desconhecem a história. Ao mesmo tempo, a gente vive em uma época com um grande acesso à informação, a um clique de distância. Isso não é uma contradição?
Francisco Foot Hardman – O professor Salvo Vaccaro, um colega lá da Universidade da Sicília [Itália], em um seminário internacional em João Pessoa [PB] sobre Michel Foucault, chamou atenção para isso, dizendo que, durante os períodos tradicionais de autoritarismo, você tinha censura e ponto. Não passava nada sem a aprovação do Estado, e nós vivemos intensamente isso no período de 64 a 85. Nós temos o caso de um cineasta importante e que reside em Barão Geraldo [Campinas, SP], Renato Tapajós, que teve o seu primeiro livro, Em Câmera Lenta, apreendido e censurado. Esse é um caso “clássico” de censura.
Vaccaro dizia, porém, que, no tempo em que nós vivemos, uma forma de desinformação é o excesso de informação sem critério, dispersa, em que você já não sabe mais para que lado vai. E existem grupos organizados para produzirem esse tipo de confusão. Por exemplo, nas redes sociais, que eu chamo de antissociais, você produz facilmente um vídeo, modifica imagens e as coloca no espaço virtual. As pessoas olham para aquela imagem e acreditam naquilo, sem sequer perguntar sobre as fontes, sobre como aquilo foi produzido. E aquilo passa a ser testemunho da verdade, mas se trata de algo completamente manipulado. Há grupos terríveis aí da extrema direita trabalhando em uma produção metódica da mentira, que é despejada em uma grande velocidade, com uma rapidez enorme nas chamadas redes sociais. É estranho isso, porque a era da informática passa a ser a era da desinformação. O filósofo coreano Byung-Chul Han mostra que a “infocracia” na qual vivemos se contrapõe à democracia.

JU – Falando em censura prévia, muitas obras críticas à ditadura conseguiram, já naquela época, passar pelos militares e serem publicadas. É o caso de livros como Bar Don Juan, de Antonio Callado, publicado em 1974, e Pessach, a Travessia, do Carlos Heitor Cony, publicado em 1967. Como esses e outros artistas conseguiam escapar da censura?
Francisco Foot Hardman – Certamente esse foi um desafio grande em meio a esse clima completamente adverso de censura prévia. Os melhores artistas tinham o recurso da chamada metáfora e uma coisa que no Brasil é bastante importante: o humor. Você tem toda uma imprensa e também o teatro que se valiam desse recurso. Talvez o maior exemplo na história daquele período tenha sido o jornal O Pasquim. O Henfil e o irmão dele [Betinho] também foram referências fundamentais nesse tipo de humor, que trata das questões mais sérias de forma sarcástica e, muitas vezes, metafóricas e que conseguiram, digamos assim, enganar os agentes da censura. No entanto, mesmo O Pasquim sofreu ataques porque, em um determinado momento, percebeu-se que aquele era um jornal perigoso, porque era muito popular. No caso do cinema, aquele acabou se revelando um momento muito prejudicial. A gente entrou na fase da pornochanchada e o cinema político, social, ficou de lado.
Existem, porém, ações de resgate importantíssimas no período mais recente tendo por objeto filmes de memórias, documentários e filmes ficcionais sobre aqueles anos. Felizmente isso tem acontecido e eu vejo o interesse que isso despertou em um momento no qual o livro não é mais aquele objeto de desejo tão central. Existe toda uma busca por esse tema, algo que vi na conjuntura de 2015, em torno dos 50 anos do golpe militar. E eu tenho certeza de que isso agora, com os 60 anos, vai surgir novamente.
Um exemplo é o filme Torre das Donzelas, de 2019, da cineasta Suzanna Lira. Ele foi feito com o depoimento de mulheres mantidas como presas políticas no Presídio Tiradentes, a mais famosa delas, Dilma Rousseff. Essas mulheres viram-se convocadas pela direção do filme e vão para lá reconstruir os acontecimentos. Houve todo um trabalho de cenário muito interessante a partir das memórias das ex-detentas. E entre elas encontra-se minha caríssima ex-colega de graduação no IFCH Robêni Baptista da Costa, hoje linguista e professora da educação básica em Campinas, então recém-saída da “Torre” e que participou de um debate sobre esse filme, no ano passado, no meu curso de graduação no IEL. Para nossa honra e grande emoção das alunas e dos alunos. O presídio foi demolido em 1973 e acho que a demolição tem também relação com o apagamento de rastros desse período.

JU – Imagino que o período histórico em que essas obras foram produzidas impactam as abordagens e os conteúdos apresentados?
Francisco Foot Hardman – Não há dúvidas de que a produção cultural não está solta no espaço e no tempo. Ela acaba sempre dependendo dos traços dominantes da sociedade em cada período histórico. Então, em períodos de limitação das liberdades de expressão, os artistas veem-se obrigados a tentar vários outros mecanismos para responder a isso.
Hoje em dia nós temos a literatura dos grupos periféricos e marginalizados, a quem não se dava voz antigamente. Então eu chamo atenção para as literaturas produzidas por membros de comunidades indígenas e representantes da população negra no Brasil, que estão aumentando enormemente sua presença.
Estudei a questão relacionada às classes operárias no início do processo de industrialização. Os grupos operários estavam completamente reprimidos. Não havia nenhum direito trabalhista. Havia a lei de expulsão dos “estrangeiros”, que eram os operários pobres, imigrantes, que tinha por alvo também aos grupos libertários, anarquistas, voltados para a questão da cultura e que valorizavam enormemente a ideia de uma imprensa operária e de um teatro operário. Então eu acho que todas essas literaturas são importantes. Muitas vezes, no campo da teoria literária, há certa recusa em tratar desses objetos por uma suposta carência quanto à qualidade estética deles. A gente, porém, discute o tempo todo: afinal, o que é estética? Durante a ditadura, você tem que responder às coisas mais imediatas. Você tem uma literatura que é de resistência, de denúncia, que são coisas, digamos, mais urgentes.
JU – Entre 2006 e 2010, o senhor cocoordenou o projeto Escritas da Violência, no qual estudou a relação entre violência e produções culturais, especialmente no Brasil. Como a violência pode impactar as manifestações culturais?
Francisco Foot Hardman – Além de minha participação, quem coordenava esse projeto era o professor Márcio Seligmann-Silva, do IEL, e o professor Jaime Ginzburg, professor de teoria literária na USP. A ideia era, a partir dos registros das produções literárias que de alguma maneira tematizam o tema da violência em diferentes períodos autoritários, pesquisar a “representação” dessa violência. A ditadura militar, sem dúvida, é um período fundamental para isso e, mais recentemente, todos esses anos do desgoverno Bolsonaro. Existem muitos pesquisadores, dentro e fora do Brasil, que participaram do projeto e nós lançamos uma coletânea em três volumes, pela editora Sette Letras, também chamada Escritas da Violência, com uma espécie de síntese sobre as várias possibilidades de analisar essa questão.
Acho que esse período mais recente ainda vai produzir muitos trabalhos, seja nas ciências sociais ou no campo dos estudos culturais. A gente aqui está sempre atento às manifestações que aparecem, seja no plano cultural ou nas análises que possam ser feitas sobre esse período. A cultura responde aos desafios de cada momento, contrapondo-se. Ela funciona como uma espécie de espelho invertido, truncado, e é aí que a chamada crítica surge. A crítica não surge a partir de uma teoria divina. Ela surge das experiências concretas das pessoas, claro que de formas diferentes. Então você imagina o que pode ser a experiência literária e cultural das massas de refugiados ou moradores de rua?
E a partir dessas vozes, que podem surgir de forma dispersa e heterogênea, estabelece-se uma ligação entre as experiências. Há muitos teóricos falando que não existem mais literaturas nacionais, que só existe uma literatura mundial. Apesar de existir, sim, uma tendência de internacionalização, as literaturas se fazem a partir das experiências no tempo e no espaço. O grande geógrafo baiano e negro Milton Santos chamou atenção para isso, contrapondo-se à globalização financeira dos mercados e dando novo sentido ao conceito de “lugares”. Então eu acho que é das experiências concretas que surgem essas vozes.
JU – Se o senhor pudesse indicar apenas um livro para que as pessoas entendessem melhor a ditadura e a violência, qual seria?

Francisco Foot Hardman – Vou indicar o livro Memória para o esquecimento, do palestino Mahmud Darwich, considerado hoje em dia um dos maiores poetas árabe-palestinos que já existiram. Ele faleceu em 2008, mas viveu no Líbano desde criança, depois de fugir da Palestina com sua família. No livro ele descreve a noite dos ataques ininterruptos de Israel sobre o Líbano em 1982 [no que ficou conhecida como a Primeira Guerra do Líbano]. Trabalhei com esse livro nos meus cursos de graduação e de pós no IEL, no ano passado, e o resultado foi impactante. Eu fico com esse exemplo internacional para homenagear esse povo tão sofrido que é o grupo de refugiados mais antigo que nós temos no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. São milhões e milhões de palestinos que estão dispersos pelo mundo, fora os que estão hoje sendo massacrados em sua própria casa pelo Estado de Israel.