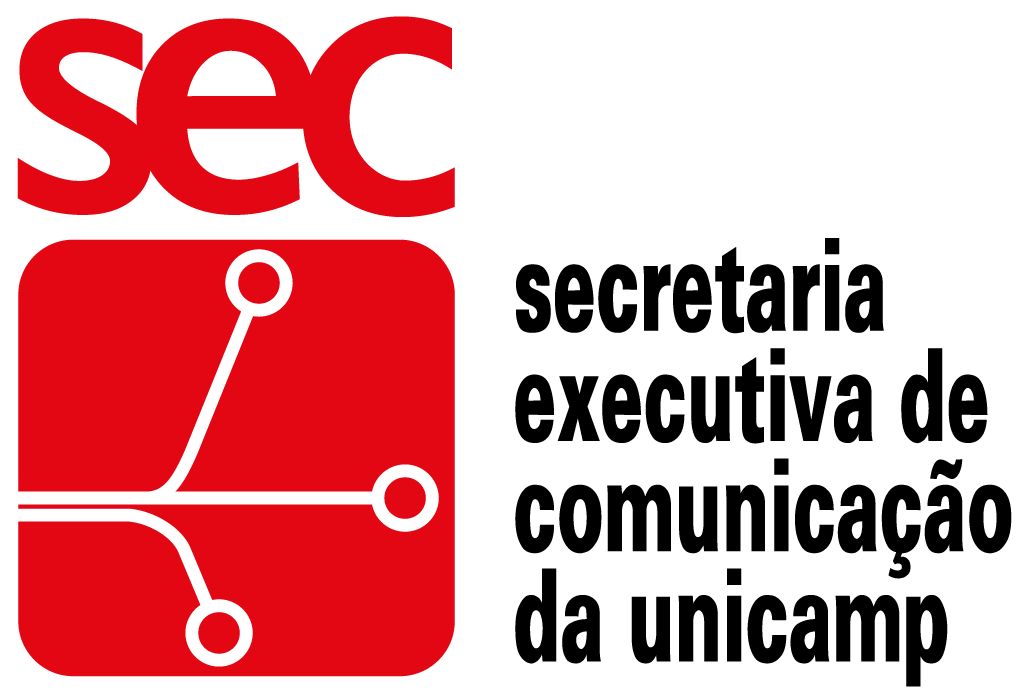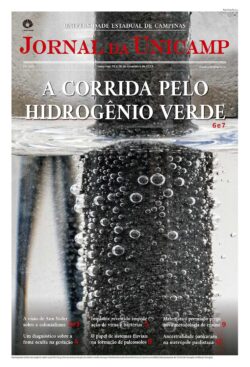Antropóloga aborda relação entre indígenas e não indígenas na capital paulista

A partir da década de 1940, diversos indígenas da etnia pankararu passaram a migrar de Pernambuco para São Paulo. O deslocamento deu-se, inicialmente, em uma busca por postos de trabalho na construção civil – os pankararu participaram da edificação de prédios famosos, como o Palácio dos Bandeirantes e o estádio do Morumbi. Na favela Real Parque, na capital paulista, concentram-se atualmente cerca de 700 pessoas da etnia. Como ficam suas conexões com as práticas ancestrais e as suas relações com os não indígenas na cidade, depois de quase 80 anos do início desse deslocamento? Em tese de doutorado defendida no Programa de PósGraduação em Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, Arianne Lovo explora essas questões a partir da perspectiva das rezadeiras pankararu. Lançando luz sobre a área da saúde, a antropóloga também analisa os diferentes sentidos atribuídos ao cuidado oferecido por essas indígenas.
Lovo entrevistou três rezadeiras e também um rezador, mapeando suas trajetórias e seus métodos de cura e enfatizando o protagonismo das mulheres nessas práticas, algo ainda pouco estudado na antropologia. A antropóloga voltou-se a práticas como o prato, um ritual de retribuição aos encantados – seres espirituais que oferecem proteção – por uma cura ou um pedido concedido. “Quando alguém adoece ou está buscando um emprego, pode pedir ajuda aos encantados. Caso eles aceitem o pedido, essa pessoa fica na obrigação de pagar um prato, ou seja, oferecer um alimento aos seus parentes humanos e não humanos.”
No ritual, normalmente restrito apenas aos indígenas, são mobilizados núcleos familiares. Há oferta de alimentos para os encantados e para os parentes presentes. “São rituais feitos em âmbito doméstico, diferente do toré [ritual com cantos e danças], no qual se permite a participação de não indígenas”, aponta. No prato, conta Lovo, a rezadeira fuma o campiô, cachimbo ritual, e sopra a fumaça nas cumbucas para que o alimento seja protegido e, assim, possa ser oferecido. Depois o encantado manifesta-se na rezadeira. É o momento de agradecer à entidade pelo pedido atendido. Parentes que estão presentes também podem pedir conselhos à entidade. “O prato é uma festa, um momento no qual se compartilha o alimento e se cria uma socialidade a partir das práticas alimentares”, diz.
Os não indígenas participam dessa socialização em outros momentos, como no toré, ritual em que há uma dança com os praiás, vestimentas dos encantados, e que já foi realizado, por exemplo, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Real Parque. As relações entre indígenas e não indígenas, a partir das demandas desse espaço de saúde, resultaram em importantes alianças políticas com vistas à melhoria do atendimento aos povos originários e a uma conscientização da população sobre os pankararu presentes na região.

Maria Lídia, uma das rezadeiras que Lovo entrevistou, é agente indígena de saúde e teve um papel fundamental na construção de um olhar diferenciado sobre o povo pankararu em São Paulo. Na UBS, apenas em 2004, uma equipe de saúde indígena se formou, devido a reivindicações da associação pankararu e de aliados dela. Lídia acompanhou todo o processo e relatou a importância da formação de uma equipe com um olhar mais focado nos pankararu. “Durante muito tempo, houve uma rotatividade de profissionais de saúde que muitas vezes não olhavam para essa diferença”, observa.
“O abril indígena de 2017 foi o primeiro momento em que os praiás entraram na UBS, junto com a Lídia. Foi um momento significativo mostrando a parceria com os profissionais da unidade de saúde, que tiveram o cuidado de olhar e entender o que é o toré, o praiá, o campiô, bem como a importância de levar esses elementos para uma UBS.”
O processo de integração entre os membros da equipe também contou com o treinamento oferecido por meio do projeto de extensão Os Pankararu na Metrópole: Antropologia e Saúde, implementado por pesquisadores da Unicamp e por integrantes da UBS e da comunidade pankararu. Lovo participou, entre 2018 e 2019, do projeto coordenado pelo professor José Maurício Arruti, docente do IFCH. Como destaca a antropóloga em sua tese, a equipe de saúde voltada aos indígenas conseguiu também aprender mais sobre o significado da palavra saúde para os pankararu, um termo que abarca questões espirituais e o direito à terra.
A tese, intitulada “Ninguém faz a reza só: uma etnografia da mobilidade e das formas de cuidar a partir das mulheres Pankararu”, contou com a orientação da professora Artionka Capiberibe. “A grande importância da tese é mostrar que o universo indígena está aqui ao nosso lado e que esse universo de conhecimentos, práticas e rituais mantém uma relação próxima, no bairro Real Parque, com os não indígenas, indicando a vitalidade e os processos contínuos de transformação que as populações indígenas vivem”, destaca a professora, que também chama atenção para o protagonismo das mulheres pankararu nas ações políticas realizadas na cidade de São Paulo.