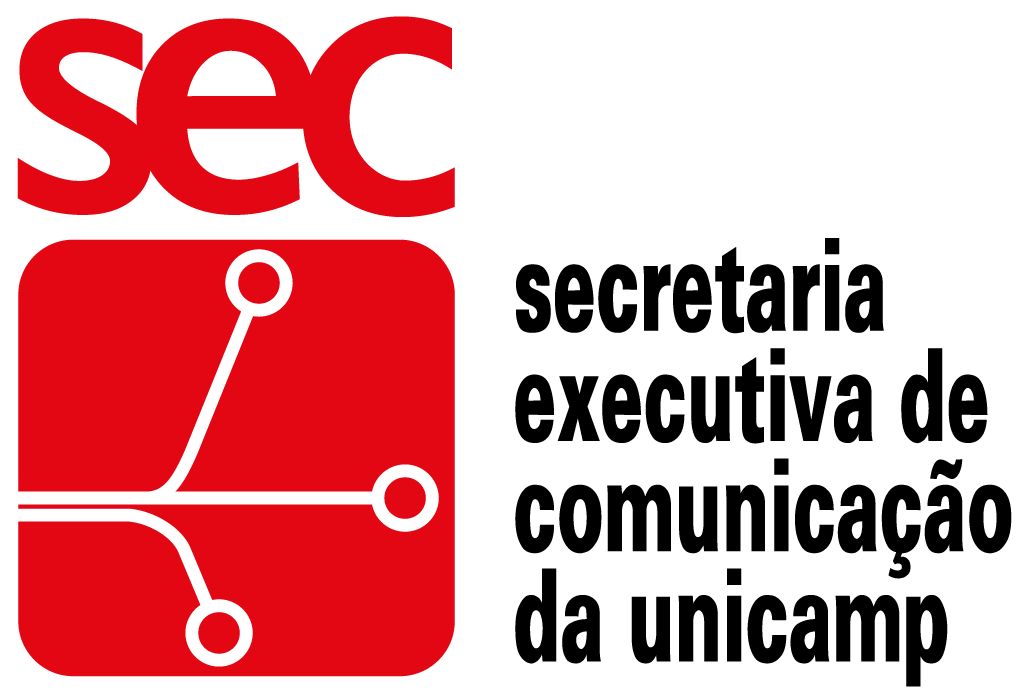Etnólogo combina inquietação e pesquisa para desvendar a realidade do pensamento de extrema direita

A notoriedade de líderes políticos de uma direita populista, representada por figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro, não foi apenas um atalho para que certos grupos – desde conservadores até extremistas que abraçam o golpismo – chegassem ao poder. Governos conduzidos por essa corrente foram instrumentos para o avanço do tradicionalismo, vertente de pensamento vocalizada por nomes como Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, Olavo de Carvalho, influenciador do bolsonarismo que morreu em 2022, e Aleksandr Dugin, conselheiro do presidente russo, Vladimir Putin.
Definir o tradicionalismo é tão complexo quanto enquadrá-lo na política convencional. Em linhas gerais, os tradicionalistas se opõem a tudo o que se relaciona à Modernidade em seu sentido histórico, ou seja, ao que se constitui como paradigma das sociedades pós-iluministas, como a separação entre Estado e religião, o individualismo e o poder de mobilização social. Seus representantes almejam retomar a chamada “era de ouro” na qual a sociedade era movida pela religiosidade e por barreiras entre grupos sociais bem definidos. As bases desse pensamento encontram-se nos escritos do francês René Guénon (1886-1951) e do italiano Julius Evola (1898-1974). No Brasil e nos Estados Unidos, a defesa dessas ideias está circunscrita a comunidades fortemente conservadoras de determinadas regiões. Além disso, para muitos tradicionalistas, a China e seu “comunismo de mercado globalizante” seriam a encarnação do mal.
Autor de Guerra pela Eternidade: o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista (Editora da Unicamp), Benjamin Teitelbaum, professor da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, combinou o trabalho da etnografia com a inquietação jornalística para mergulhar fundo nas ideias de Bannon, Dugin e Carvalho. Sua obra foi escrita com base em encontros e entrevistas ocorridos entre julho de 2018 e setembro de 2019 e compõe mais do que o relato de uma experiência corajosa: é o diagnóstico de uma realidade que precisa ser estudada para que não se perpetue.
Nesta entrevista, o professor norte-americano relaciona temas presentes em seu livro com episódios recentes, como o fortalecimento do chamado “centrão” durante o governo Bolsonaro, a formação da frente ampla que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a guerra na Ucrânia.

Jornal da Unicamp – A que o senhor atribui a boa recepção da versão brasileira de seu livro Guerra pela Eternidade?
Benjamin Teitelbaum – Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, percebo no Brasil uma grande demanda por esse tipo de análise. Na época da publicação, os norte-americanos estavam saturados de conteúdos sobre Steve Bannon. Foi uma luta fazer com que o livro decolasse nos Estados Unidos. No Brasil, entretanto, ele explodiu, estava em todos os meios de comunicação. Fui entrevistado por Pedro Bial, por Patrícia Campos Mello; Caetano Veloso também divulgou o livro. Para mim, isso aconteceu porque a obra traz algo realmente novo sobre alguém que as pessoas ainda não conheciam bem, que era Olavo de Carvalho. As conversas sobre ele eram do tipo: “Ele é muito conservador, é louco, politicamente radical, fascista”. Eu entrei nesse universo lidando com as mesmas ideias, mas dizendo algo diferente, e isso chamou a atenção das pessoas.
JU – O senhor se surpreendeu com a demanda do público brasileiro por análises sobre Olavo de Carvalho? Como o senhor chegou até ele?
Benjamin Teitelbaum – Foi algo acidental, que ocorreu no período em que eu estudava Steve Bannon. Tive contato com Olavo de Carvalho enquanto eu analisava a relação de Bannon com o ideólogo russo Aleksandr Dugin. Carvalho e Bannon passaram a se encontrar, a aparecer juntos em eventos e a traçar estratégias em conjunto. Eu, simplesmente, segui aquele caminho. Não podia prever o interesse do público brasileiro.
JU – Como podemos definir o tradicionalismo? Quais os limites entre essa vertente e correntes como o conservadorismo e o reacionarismo?
Benjamin Teitelbaum – É uma definição muito difícil e é muito complicado apontar esses limites. Inicialmente, podemos explicá-lo como uma forma de conservadorismo levada ao extremo. Algumas pessoas podem pensar que, em tempos passados, as coisas eram melhores. Bolsonaro, por exemplo, pode ser nostálgico em relação à ditadura militar do Brasil. Os tradicionalistas tomam esse instinto e o levam a patamares tão extremos que o tornam quase irreconhecível, mas com uma diferença: ele parece ser nostálgico e, no entanto, é uma forma de antinostalgia.
Eles consideram que o passado era melhor, que já houve uma “era de ouro”, mas também que podemos tê-la de novo. Isso é diferente da nostalgia. Um nostálgico sente falta de um passado que não pode voltar. O tradicionalismo, por sua vez, se torna perigoso à medida que começa a falar da possibilidade de trazer de volta um passado que considera melhor. Por que isso? Porque essa volta ao passado é defendida por meio da destruição. Trata-se de um conceito de tempo cíclico, em que seria possível se reconectar com o passado por meio da destruição do presente; uma ideia de que passamos por um período sombrio e devemos atravessá-lo para atingir de novo um período de ouro.
JU – E o que viria depois dessa destruição?
Benjamin Teitelbaum – Haveria o retorno de um tempo marcado por uma forte religiosidade, hierarquizado e com fronteiras bem definidas. Um mundo em que a religiosidade abarcaria o poder político e a vida cultural. Não haveria a ideia de igualdade entre as pessoas, não haveria individualismo, globalização ou feminismo. Os limites entre as coisas ditados por uma noção forte de subjetividade seriam substituídos por um mundo de fronteiras reais entre as pessoas.
JU – Há um valor comum entre os tradicionalistas que é a oposição à China. Isso já existia antes do boom econômico do país asiático? Não parece conveniente radicalizar a oposição a um país quando ele se torna a segunda maior economia do mundo?
Benjamin Teitelbaum – Sim, principalmente quando se supõe que a grande civilização está na primeira economia, os Estados Unidos. Parece, sim, bem conveniente pintar seu principal adversário econômico como um inimigo espiritual. É evidente que a China é vista de forma desfavorável. Isso está presente nas obras mais antigas de Olavo de Carvalho. Ele teve um debate interessante com Aleksandr Dugin no início dos anos 2000, na época da ascensão da China, em que apontou que a China e a Rússia estavam alinhadas em um pacto militar.
É uma visão um pouco diferente da que Bolsonaro propagandeava, de que o problema estaria no comunismo chinês, mas ainda é um retrato negativo. A visão de Bannon sobre a China, por sua vez, está mais associada com a sua economia. Para ele, o mal trazido pela China é que o país alimenta a globalização por meio de seu modo de produção industrial, em que o Ocidente consome os produtos e faz o dinheiro circular pelo mundo, mas o eixo produtor de tudo está na China. Precisamos, entretanto, recordar aquilo de que os tradicionalistas não gostam a respeito da China, que é a quebra das fronteiras. E, sim, a China, como os Estados Unidos, impulsiona a globalização no mundo.

JU – Diante desse quadro, que avaliação o senhor faz da oposição existente nos Estados Unidos em relação à China?
Benjamin Teitelbaum – Trata-se de uma oposição que vem crescendo e que envolve lados diferentes do espectro político. A marca da oposição feita por Bannon e por Carvalho é a forma com que a China rompe as fronteiras mundiais e como ela se opõe à religiosidade. Não é um anticomunismo por si só, mas uma oposição pelo fato de se tratar de um sistema contrário a valores religiosos. Não é o tipo de crítica feita pela Nancy Pelosi [ex-presidente da Câmara dos Representantes (deputados) dos Estados Unidos] e outros membros do Partido Democrata, por exemplo, que se tornam cada vez mais reticentes em relação ao país asiático.
JU – No Brasil, seguidores de Olavo de Carvalho, como Ernesto Araújo e o ex-ministro da Educação Ricardo Vélez, integraram o governo de Jair Bolsonaro. Com o decorrer do mandato presidencial, foram substituídos por outros nomes, ao mesmo tempo que grupos ligados ao chamado “centrão”, marcados pelo fisiologismo político, ganharam espaço e poder. Nesse contexto, até que ponto o tradicionalismo consegue manter espaço na política real?
Benjamin Teitelbaum – Não tenho certeza. De certa forma, um tradicionalista é uma pessoa muito idealista e um idealismo exacerbado não tem espaço na política, principalmente na política de coalizão. É algo muito radical de se sustentar no longo prazo. E, aí, está o cerne da resposta para sua questão.
Claro, as derrotas de Trump e de Bolsonaro não são o que Bannon e Carvalho queriam ver, mas a agenda tradicionalista não vai caminhar por meio da política tradicional. Eles se apoiam no populismo político por questionar o establishment, mas se unem a nomes como Trump e Bolsonaro porque os veem como destruidores. Não importa o quanto eles estejam de acordo com o pensamento tradicionalista, o que importa são suas ações.
JU – Podemos interpretar a guerra na Ucrânia como um efeito da influência de Aleksandr Dugin sobre Vladimir Putin?
Benjamin Teitelbaum – É difícil dizer. Pelo lado da Rússia, vejo mais de 300 anos de reivindicação pelo controle sobre determinados territórios, ou seja, o problema é mais antigo do que preconiza o senso comum. Para mim, fatores como a expansão da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e o discurso da mídia contemporânea podem explicar o porquê de a investida ter começado quando começou. Entretanto, a questão é muito mais profunda. Não acho que Dugin tenha influenciado diretamente o início da guerra, tendo convencido Putin a invadir a Ucrânia. O que podemos perceber é a influência dele no decorrer da guerra.
Há duas justificativas oficiais que a Rússia apresenta para a invasão. Uma é a expansão da Otan, que ameaçaria a segurança do país, e a segunda é que a Ucrânia pertenceria à Rússia e que o Ocidente estaria atrasando o processo para conquistar esse território. Isso revela uma visão imperialista, na qual Dugin desempenha um papel importante. Percebo que muitos historiadores e cientistas políticos não prestam atenção nas diferentes narrativas usadas sobre um mesmo conflito.
JU – Nesse ponto, a forma como o Ocidente responde ao conflito, com sanções econômicas, pode não surtir efeito?
Benjamin Teitelbaum – Exato. Esse é um conflito entre a materialidade e a imaterialidade. Interessante colocar esse ponto porque uma das coisas ditas por Dugin quando as sanções começaram foi que, se elas contribuírem para isolar a Rússia, ótimo, um primeiro passo terá sido dado. Ele deseja um mundo onde há pequenas ilhas e, se a Rússia conseguir passar por isso e se mantiver isolada, é perfeito. É o mesmo tom do discurso de Ernesto Araújo ao dizer que ele estaria feliz com um Brasil pária no mundo, contanto que junto dos que ele considera corretos. Dugin diria que ficará feliz se a Rússia passar a repelir o sistema econômico internacional.
JU – Qual é, na sua opinião, a melhor maneira de enfrentar esses movimentos tradicionalistas? Nesse contexto, qual é o papel dos movimentos de direita, partindo do pressuposto de que abriram espaço para Trump, nos Estados Unidos, e Bolsonaro, no Brasil?
Benjamin Teitelbaum – Historicamente, grupos de centro-direita sempre foram uma barreira à ascensão da extrema direita ao poder. Nesse contexto, cenários, como a coalizão atual formada pelo presidente Lula no Brasil – em que todos estão unidos contra a extrema direita –, tornam-se problemáticos, pois podem ter efeito contrário, resultando no seu crescimento. Esse é o grande desafio atual da centro-direita: deter os radicais de direita sem se identificar com o restante do espectro político. Do contrário, aos olhos dos eleitores, todos passarão a integrar a mesma corrente ideológica e, consequentemente, haverá apenas uma oposição, formada por essa extrema direita, como espaço de contestação. É preciso muito cuidado com essa situação.
Outra forma de lidar com a questão é melhorar o entendimento sobre a realidade. A percepção não pode ser enviesada. Por exemplo, o uso massificado de expressões como “fascista” e “nazista” para se referir a certos atores recai no erro de classificar algo novo como conhecido. Isso dificulta a compreensão plena desses fenômenos. Por isso, defendo, e muitos não gostam de me ouvir dizer isso, que as pessoas precisam se desafiar a ouvir e captar as nuances. Isso não torna ninguém apoiador de Trump ou Bolsonaro. Acredito que esse é um exercício importante para a apreensão da realidade.