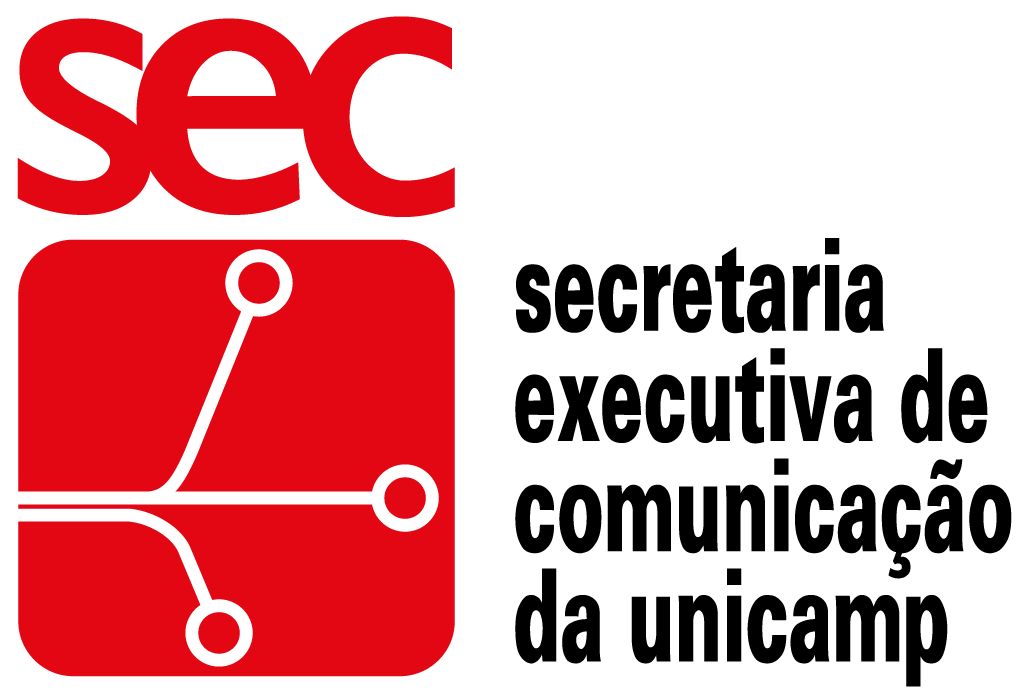Anônimo tenta decifrar a biosfera das redes de extrema direita, temendo perder-se no ódio ou perder a democracia

Em quatro anos em anonimato no vizinho universo das redes bolsonaristas, sofri violência virtual, fui seguido por generais, virei amigo de nazistas e aprendi o lugar do medo (e do fígado) para entender as paixões políticas. Era 1º de janeiro de 2019, primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro, meu primeiro dia como um seguidor. Precisava entender aquela estranha adoração, mergulhando nesse cenário sem antecipar juízos. E ali permaneço, infiltrado, conduzido por um intricado mix de sentimentos e algoritmos nos últimos quatro anos. Tomado pela sensação de medo e de confusão, resolvi ficar ali, anônimo, como o mundo virtual permite estar.
Se agora compartilho o que vivi nessa incursão por esse universo paralelo marcado por extremismos e incontáveis “ismos”, é menos pelo que experimentei sobre anticomunismo, antifeminismo, antiabortismo, armamentismo, moralismo ou supremacismo e mais por algo muito vivo e incomodamente familiar: pelo poder das paixões políticas.
Durante a campanha, em 2018, insinuava-se ser o sucesso fake daquela candidatura mera ação virtual, coisa de robôs. Mas as pessoas eram bem reais na posse de 2019. Tinha muito mais gente na Praça dos Três Poderes do que poderia imaginar! Esse persistente magnetismo do presidente então recém-eleito me intrigou. E me provocou tanto quanto os julgamentos apressados, repetidos entre os derrotados nas eleições: estupidez e ignorância. Não fazia sentido. Então me investi dos artifícios do mundo virtual e me travesti num personagem do Twitter, um anônimo com um email e um perfil qualquer. Só o essencial ficou visível: uma foto capaz de atrair simpatia e meu declarado amor pela causa da liberdade. Sob que princípios? Pouco importava. A liberdade, na interpretação do algoritmo e das paixões políticas, foi o que me guiou e me levou hoje a seguir quase 300 perfis e ser seguido por 21 – entre eles, alguns generais.
Percebi o gosto pela “liberdade”, nesse universo. No início, era a liberdade de “não viver mais num país comunista”, o alívio de elogiar políticas neoliberais sem peias ou a libertadora sensação de simplesmente xingar sem constrangimento. Morte ao politicamente correto! Debochar do presidiário, desprezar o noticiário, condenar povos originários, exaltar o verde e amarelo, vibrar com cada ato sectário: “Vá pra Cuba!”… Depois, a vigilância ideológica que se voltava voraz contra inimigos, ex-aliados e, claro, qualquer tuíte. A liberdade tem seu preço.
O pecado nesse indócil ambiente está na crítica: a menor manifestação de dúvida diante de qualquer Bolsonaro ou algum arremedo de autocrítica e… zaz! Acabou a paz. Até a exaltada liberdade de expressão tem seu preço. Fui navegando com cuidado, curtindo os liberais, compartilhando os radicais, instruindo e seguindo as sugestões do algoritmo poderoso. Raramente, atraio a simpatia de seguidores – perfis de pessoas brancas, na maioria, com mais de 30 anos, mulheres e homens “insuspeitos”, como os invasores das sedes dos Três Poderes em Brasília, dia 8 de janeiro deste ano.
A coisa pegou nas três vezes que interagi. A primeira, em abril de 2019, quando Eduardo Bolsonaro comentou com ironia a cobertura da imprensa sobre a visita do pai a Israel. Zero-três editou trechos da Record e da Globo e escreveu: “Uma visita, duas narrativas. Tirem suas conclusões”. Não aguentei e retruquei: “Não. Uma visita, duas reportagens, três narrativas. Tirem suas conclusões”. Os ataques foram imediatos: “Seu esquerdopata doente”, “Sai daqui, lixo!”. Não se identificava sinal de “esquerdopatia” em meu perfil, mas ousar criticar e expor a ironia, usada metodicamente, bastou para me tacharem assim. Apanhei muito e por muito tempo.
Outro momento foi diante de uma foto da intocável Michelle Bolsonaro em um ambiente lindo e seguro, postada no mesmo dia do anúncio trágico de que havia 33 milhões de pessoas com fome no Brasil. Não pude conter o comentário: “Enquanto isso, o Brasil real passa fome”. Apanhei na linha da cintura, por semanas: “Corno!”, “Seu pau não sobe!”.
A terceira foi em uma foto do casal Bolsonaro, louvando a família. Escrevi já ciente da surra: “Eu só não sei qual família: do primeiro, do segundo ou do terceiro casamento”. Dessa vez, além da depreciação sexual e dos argumentos bíblicos – algo no Antigo Testamento sobre várias mulheres –, também tive o perfil vasculhado.
Em uma dessas vezes dois perfis de generais começaram a me seguir, mas já tinha entendido como me defender: segui todos os perfis de generais que encontrei. O medo é o único inimigo da liberdade de tuíte.
As pautas liberais são um conforto nesse mundo. Da sociedade civil aos partidos, da indústria de think tanks ao frisson da entrada de Elon Musk nos negócios do Twitter, em 2022, é a liberdade de não se comprometer com o outro – outro tempo, outro ser, outra ideologia, outra fé, outro mundo – que move as paixões. Comecei a curtir todo mundo. Sem planejar, lá estava eu entre os grupos tradicionalistas e supremacistas do Brasil, numa passagem tão sutil que mal consigo recuperar.
Não que não haja método. Os posts são sincronizados com a grande imprensa, as mentiras e as distorções diante de denúncias ao então governo são cirúrgicas, os comentários são (des)cuidados com precisão para provocarem a ira dos justos. Tudo sincronizado. Tudo em minutos, com disparos e difusão de agilidade robótica. Não há debate democrático que resista.
A derrota de Bolsonaro e o bloqueio judicial de muitas contas altamente ativas nessa engrenagem alteraram esse ecossistema. Desorientação, sondagens – “Quem aí está fechado com B.?”, “O que você estaria disposto a fazer pelo país?” – e migração para outras redes. Mas nada que sinalize uma desintegração. Sem tuítes do ex-presidente depois da eleição: tudo já tinha migrado com ele para o Telegram. Lá vou eu, entre “2.7m” de seguidores na nova plataforma!
Espelhos do delírio
No pós-eleição, os algoritmos me chamaram para lugares desconfortáveis. Mas acho que já nem parecem estranhos. Grupos indiferentes ao racismo no Brasil, coletivos que acusam as cotas raciais de golpe, acusações contra “pobres bandidos”, campanhas convictas do papel do feminismo na destruição da família, slogans homofóbicos e ódio, muito ódio social e político.
Nas redes sectárias, só é possível dividir o mundo entre o bem e o mal, nós e eles, os odiosos que devem desaparecer. Há pouco espaço para sutileza, dúvida e crítica. Sob verdades delirantes, gritam, humilham, destroem e correm riscos, como se fossem heróis em guerra.
Entre espelhos, nunca há debate político. Do outro lado do espelho, para suportar o mal, o resultado de 2022 é proclamado como fraude, manipulação de urnas e interferência de forças ocultas, e os acampamentos antidemocráticos são o grito desesperado diante do medo do outro, daquele que nunca se viu.
Gatilho da indignação
Paixão política e sectarismo político funcionam pela captura da indignação, real ou artificial. É a indignação que mobiliza. Nesses quatro anos, aprendi que não se pode jamais desprezar o poder da ira que ela carrega.
Sempre que conto desse mergulho no ódio das redes me perguntam como tive estômago para me infiltrar. Sim, é preciso ter muito estômago (e fígado, como prefiro dizer). Não é na cabeça que se compreendem paixões políticas dessa ordem.
E eu, que faço aqui? Continuo no desconfortável lugar de infiltrado, observando sem precisar me manifestar. O medo sincroniza toda essa estranha biosfera. E por mais paradoxal que pareça, o medo é o meu abrigo. Medo de me perder no ódio, uma sombra cotidiana. Medo de ser descoberto, o susto de um clique. Medo de perder a democracia do horizonte, o que me mantém aqui, tentando entender…
—————————————————————————–
A narrativa desta página é baseada em fatos reais, vividos virtualmente por alguém da comunidade acadêmica da Unicamp.