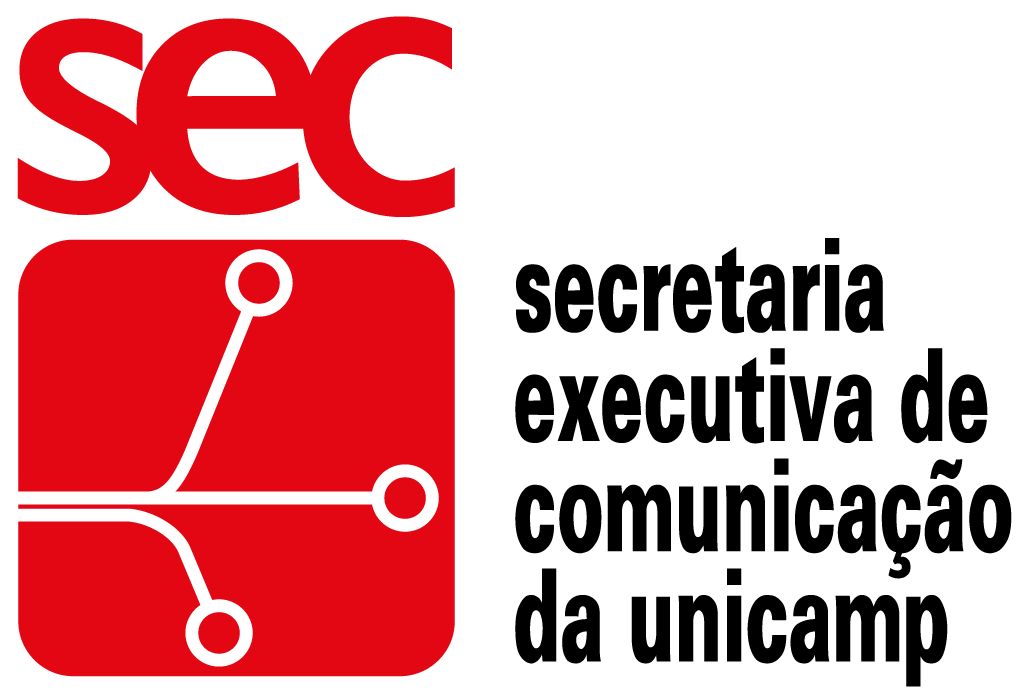A obra de François Rabelais tem muitas portas. Eu entrei nela pela porta da utopia, mais precisamente pelo Gargantua, que sai agora em tradução de Élide Valarini Oliver, juntamente com o Segundo Livro do Bom Pantagruel, ambos pela Editora da Unicamp em parceria com a Ateliê Editorial.
Vou explicar. Em meu mestrado, doutorado e pós-doutorado me dediquei a traduzir e estudar relatos de viagem a terras imaginárias dos séculos XVI e XVII: respectivamente, L’isle des hermaphrodites (“A ilha dos hermafroditas”), de autoria anônima, publicada em Paris, em 1605, La terre australe connue (“A terra austral conhecida”), de Gabriel de Foigny, publicada em 1676, em Genebra (esta, publicada em livro pela Editora da Unicamp em 2011), e a matriz renascentista das utopias, o De optimo reip. statu, deque noua insula Vtopia libellus uere aureus nec minus salutaris quam festiuus, clarissimi dissertissimique uiri Thomae Mori inclytae ciuitatis Londinensis ciuis & Vicecomitis [“Sobre a melhor forma de república e sobre a nova ilha da Utopia, um livrinho realmente de ouro, não menos salutar que divertido, obra do ilustríssimo e disertíssimo homem Thomas More, cidadão da ínclita cidade de Londres e xerife”], mais conhecido como Utopia[1], de Thomas More, publicado em Lovaina em 1516. Nesses e em outros relatos de viagem a terras utópicas há muito mais que um mero relato. Costuma haver a descrição de uma unidade política (cidade, país, comunidade, reino, ilha etc.) regida por instituições perfeitas em relação à sociedade do utopista, com maior ou menor detalhamento. Além disso, pode haver diferentes graus de ironia e teor satírico (evidente, no caso de A ilha dos hermafroditas) e, em contraste com a idealidade apresentada, a crítica, sugerida ou explícita, da sociedade em que vive o utopista (há, por vezes, uma verdadeira análise de conjuntura, como no caso da Utopia de More).
Gabriel de Foigny, por exemplo, descreve um continente povoado por hermafroditas (ele usa a palavra “hermaphrodite”) perfeitamente racionais. Eles vivem num isomorfismo social total: como são igualmente dotados da mesma racionalidade, toda vontade individual coincide com a vontade coletiva. Esse aspecto tem um precedente no modo de viver dos telemitas, habitantes da abadia de Thélème (do grego thélêma, a vontade, humana ou divina) descrita por Rabelais nos capítulos 52 a 58 do Primeiro Livro. A Vida Muito Horrífica do Grande Gargantua. Os telemitas seguem o princípio da liberdade absoluta, condição necessária para que se manifeste sua inclinação natural pelos nobres instintos e por uma vida virtuosa, que levarão obrigatoriamente à convergência dos desejos individuais: Fay ce que vouldras, “Faça o que quiser”, é o lema dessa “abadia antiabadia”, como a define a tradutora Élide V. Oliver. (Sobre as diversas e por vezes ambivalentes interpretações desse lema, ver a síntese da mesa-redonda a ele dedicada, com Mireille Huchon, Jean Céard, Raphael Cappellen e Nicolas Le Cadet, e publicada no volume 8 da revista Morus – Utopia e Renascimento, disponível online.)
A construção de uma abadia é a etapa final de muitos romances de cavalaria. No primeiro livro de Gargantua, esse tema reaparece ao avesso: frei Jean a recebe de Gargantua como prêmio por sua participação na guerra contra Picrocole e pede que ele possa “instituir seu convento ao contrário de todos os outros” (cap. 52, p. 284). Thélème será uma abadia sem muralhas, pois [é frei Jean quem fala] “onde muro há, na frente e atrás, também há murmúrio, inveja e conspiração mútuas. Além do mais, visto que em certos conventos desse mundo é hábito que se alguma mulher aí entrar, mesmo as castas e pudicas, se limpe o lugar por onde passaram, se ordenará que, se por acaso, um religioso ou religiosa ali entrar, se limpará cuidadosamente todos os lugares por onde terão passado” (cap. 52, p. 284).
Nesse trecho percebem-se duas marcas que estão presentes em todos os livros de Rabelais sobre Gargantua e Pantagruel: a escrita recheada de jogos de palavras e de sonoridades, que incrementam o riso e amplificam os significados, e a crítica irônica, satírica, inclusive autoirônica (vale lembrar que Rabelais foi monge franciscano e depois beneditino). Nada disso escapa à tradutora, que encontra soluções em nossa língua para manter as marcas estilísticas e a energia da escrita rabelaisiana e, quando há passagens com os recursos linguísticos menos traduzíveis, puxa notas que guiam o público leitor para que se possa entender o que está em questão na língua do autor.
Especialistas já se debruçaram detidamente sobre a língua de Rabelais e concordam que ele tem uma expressão sua, muito particular, praticamente um mosaico que parece ter sido inventado a partir da reunião de diversos modos de fala e de escrita que se encontram no francês, em dialetos, no latim e em outras línguas pelas quais ele se interessou (hebraico, grego – que ele, como bom humanista, tanto amava –, toscano, espanhol, alemão etc.). Ele foi um artesão da língua francesa, criando seu próprio sistema vocabular e ortográfico e sua sintaxe específica, que agrupa muitas línguas.
Esse mosaico também parece ter reunido aspectos lexicais, tonais, entre outros, provenientes de seus vários campos de atuação, nem sempre pacíficos: além de ter sido monge franciscano e depois beneditino, Rabelais estudou medicina, trabalhou para vários políticos importantes, inclusive como espião, teve três filhos, esteve mergulhado nas questões teológicas candentes suscitadas pelas reformas protestante e católica etc. Todas essas junções de tantos campos de interesse, da erudição livresca à experiência de mundo, aparecem em uma escrita inventiva e vigorosa que a tradução de Élide V. Oliver emula com sucesso.
Alguns textos reunidos em La langue de Rabelais – La langue de Montaigne (Genebra, Droz, 2009) definem a língua de Rabelais como uma “pantera fabulosa” (Mireille Huchon, p. 31, que a analisa à luz do italiano vulgar ilustre de Dante), “esfinge ou quimera […] ‘monstro de cem cabeças’ que nos confunde em seu inesgotável ‘abismo de ciência’” (François Rigolot, p. 115). Essas figurações dão conta dos matizes variados de vocabulário, sintaxe e referências tanto locais e contemporâneas quanto distantes e de outras épocas, tanto eruditas quanto populares, presentes no francês de Rabelais, que surge numa França na qual ainda não há sistematizações do que poderia ser uma língua comum a todos os habitantes, começam a ser elaboradas – é no século XVI que começam a surgir gramáticas e dicionários, primeiras tentativas de estabelecimento de normas linguísticas compartilhadas.
Voltemos à Utopia. Ela é explicitamente citada no capítulo 2 do Segundo Livro do Bom Pantagruel, que sugere algo surpreendente: Pantagruel tem sangue utopiano!
Gargantua na idade de quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro anos engendrou o filho Pantagruel com sua mulher chamada Babedec, filha do rei dos Amaurotes de Utopia, que morreu de parto, pois ele era tão miraculosamente grande e tão pesado que não pôde vir à luz sem assim sufocar a mãe.
Amaurota, segundo Thomas More, é a capital da ilha de Utopia. Essa palavra foi criada a partir do substantivo ἀμαυρός, “difícil de enxergar”, “obscuro”. Na segunda carta a Gillis (publicada na segunda edição da Utopia, em 1517), More define Amaurota como “urbem evanidam” (“cidade evanescente”). Babedec é, portanto, filha do rei de uma cidade que não se vê muito bem.
O parto de fato foi difícil, pois, além do bebê gigante, muitas outras coisas saíram da barriga de Babedec:
Pois enquanto sua mãe Babadec o paria e as comadres parteiras a ajudavam para o receber, saíram primeiro de seu ventre sessenta e oito muleteiros, cada um puxando pelo cabresto uma mula toda carregada de sal, depois dos quais saíram nove dromedários carregados de presuntos e línguas de vaca defumadas, sete camelos carregados com enguias, depois vinte e cinco carroças de alho-poró, alho, cebola e cebolinha, o que espantou bem as ditas parteiras, mas algumas dentre elas diziam: ‘Eis aí uma boa provisão! Vamos beber lindamente não landsmannmente. Isso é bom sinal: aguilhão de vinho!’
E quando cacarejavam com a proposição desse cardápio entre elas, eis que sai Pantagruel, todo peludo como um Urso, e disse uma delas, uma experta profética: ‘Ele nasceu com todo o pelo! Fará coisas maravilhosas e se viver, viverá muito’. (p. 54)
Lendo esse trecho, tão engraçado por suas exagerações inverossímeis e pela presença de alimentos e condimentos de base da cozinha, é difícil não pensar nas representações medievais da Cocanha em países europeus, estudadas por Hilário Franco Junior em seus trabalhos. Terras de abundância, nelas há comida e bebida já pronta e disponível para qualquer pessoa, sem que haja necessidade de nenhum tipo de esforço: são frequentes as descrições de árvores carregadas, cujos frutos são frangos assados, rios de vinho, de leite, montanhas de mingau ou de queijo, salsichas que voam baixo, entre tantas outras. Na mesma linha temática estão as “utopias gastronômicas” da Grécia do século V transmitidas por Ateneo de Náucratis, que exprimem uma “versão plebeia da Idade do ouro”, conforme lemos no artigo de Maria Soler publicado na revista Morus – Utopia e Renascimento, v. 6, 2009.
Ao nome Pantagruel, que lhe foi atribuído por seu pai, o texto atribui uma etimologia burlesca: “Panta em grego, vale tanto quanto dizer tudo e Gruel, em língua agarena, vale tanto como alterado, querendo inferir que à hora de sua natividade o mundo estava todo alterado (…) ele seria algum dia o dominador dos alterados” (p. 54). “Alterado”, no segundo caso, explica a tradutora, refere-se aos que bebem muito.
Essas imagens de abundância e proliferação me parecem ser um correlato das possibilidades da língua e da imaginação rabelaisiana, tão inventivas e vigorosas, compostas de muitas camadas, todas elas em comunicação umas com as outras: o cômico e o sério; a incoerência e a coerência; as coisas do corpo e as coisas do espírito; o monstruoso e o angelical; o trivial e o sobrenatural; o minúsculo e o gigante; etc.
A última referência explícita à Utopia aparece no capítulo 8, ainda no Segundo Livro do Bom Pantagruel. Nele, lemos uma carta que Gargantua escreve de Utopia a seu filho Pantagruel, “neste décimo-sétimo dia do mês de março”. A data parece brincar com o efeito de verossimilhança trazido pelas informações detalhadas – recurso amplamente empregado nas utopias. A carta, segundo Oliver explica em nota, emprega vários registros: “autoridade paterna, vocabulário didático, com programa educativo enciclopédico, tal como aprendizagem das línguas antigas, formação clássica, alargamento do saber, educação física e intelectual, exercício de um saber ativo, em oposição à passividade percebida pelos humanistas como herança da escolástica medieval” (p. 91). Eles coexistem, continua Oliver, com um ideal evangelizado que buscava um retorno aos valores do cristianismo primitivo, ainda não deturpado pelas leituras e más traduções dos teólogos medievais, e com um ideal de virtude elaborado a partir da leitura de Aristóteles.
Ao final dessa carta escrita em Utopia, Pantagruel se mostra imbuído dos ideais pedagógicos, religiosos e morais que ela expressa: “Esta carta recebida e lida, Pantagruel tomou nova coragem e inflamou-se a usufruir mais que nunca, de sorte que vendo-o estudar e fruir, se poderia dizer que estava seu espírito entre os livros como o fogo na urze, de tão infatigável e interessado” (p. 98). O gigante torna-se uma representação do humanista estudioso e curioso, capaz de aprender, de pensar mais livremente, compreender o mundo que o cerca, praticar e criar o que bem entender e, sobretudo, capaz de rir.
Epílogo informativo
Quando comecei a estudar utopias, eu possuía apenas duas traduções de Rabelais para o português do Brasil: a de David Jardim Júnior, publicada pela editora Itatiaia em 1991 juntamente com as ilustrações de Gustave Doré, e uma tradução feita por José Maria Machado para o Círculo do Livro, de 1961, intitulada O gigante Gargântua. Ambas são anteriores ao estabelecimento do texto definitivo das obras completas de Rabelais por Mireille Huchon em colaboração com François Moreau, publicadas na coleção Pléiade em 1994 pela editora Gallimard, com as ilustrações de Doré. Essa edição serviu de base para as edições do Terceiro e do Quarto livros publicadas em 2006 e em 2015, respectivamente, traduzidas e organizadas por Élide Valarini Oliver. Em 2021, pela mesma editora, ela publicou o Primeiro e o Segundo livros, que também foram traduzidos e publicados por Guilherme Gontijo Flores pela editora 34 a partir da edição da Pléiade. Essas duas versões brasileiras mais recentes também trazem as ilustrações de Doré e são primorosas: as traduções são excelentes e têm projetos tradutórios próprios expressos em suas apresentações, que, juntamente com as notas, iluminam o texto rabelaisiano, formam e divertem o leitor, seja ele especialista ou não.
[1] A tradução poética da Utopia e a organização de uma edição com um estudo introdutório, que serão publicados em 2022 pela editora da UFPR (Universidade Federal do Paraná), foram objeto do pós-doutorado que concluí em 2019, na área de Estudos Clássicos do Departamento de Linguística Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, com supervisão de Isabella Tardin Cardoso. Já o trabalho de tradução e estudo de A ilha dos hermafroditas e de A terra austral conhecida foram objeto, respectivamente, do meu mestrado e do meu doutorado, realizados sob a orientação de Carlos Berriel no Departamento de Teoria e História Literária, no mesmo instituto e universidade.
Ana Cláudia Romano Ribeiro desenvolve projetos nas áreas de escrita, tradução, artes visuais e performance e é professora de literatura francesa na Universidade Federal de São Paulo. Suas últimas publicações são o livro de desenhos e poemas Ave, semente (Editacuja, 2021), Sol talvez seja uma palavra (7Letras, 2022), com o coletivo de escritores Anáguas, e as tirinhas A vida de Deise, em parceria com Deise Abreu Pacheco, divulgadas semanalmente no Instagram e do Facebook.