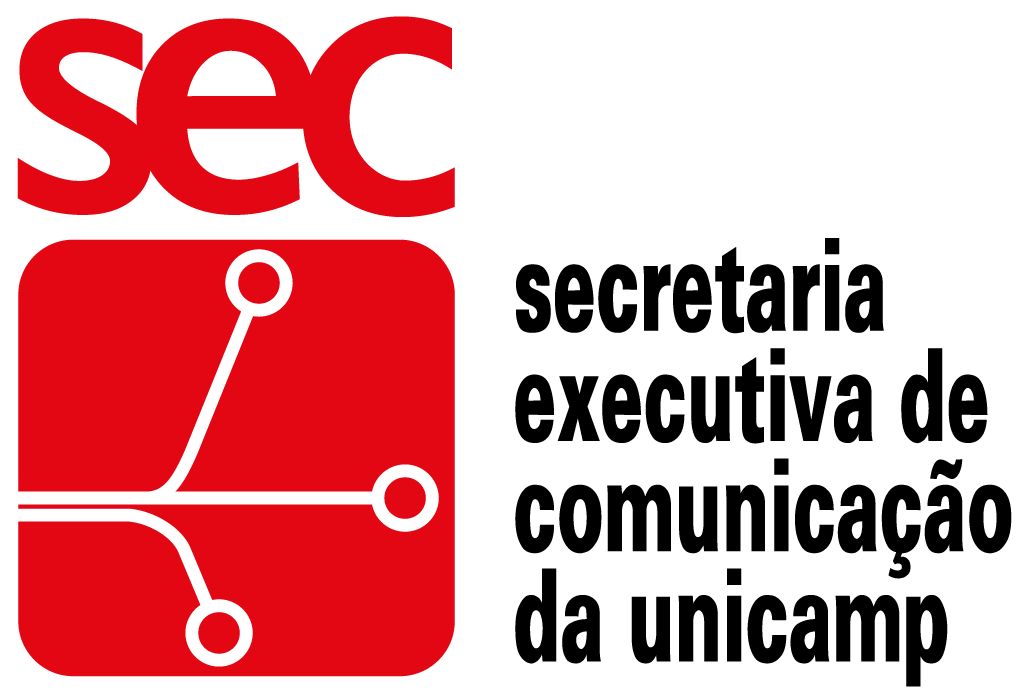Ao ter acesso a duas das obras de François Rabelais (1490-1553) vertidas para o português por Élide Valarini Oliver, um renomado crítico disse que a tradução “fazia parte da literatura brasileira”. Élide prefere manter em sigilo o nome do autor do elogio, sob o argumento de que não há registro escrito acerca do comentário. Revela, entretanto, que as palavras foram importantes para levar a cabo sua disposição em traduzir toda a obra do escritor francês, empreitada cujo início se deu na sua tese de doutorado, há mais de 30 anos.
A estudiosa, que é poeta e professora de literatura brasileira da Universidade da Califórnia, ganhou um Jabuti em 2007 por sua tradução de O Terceiro Livro de Pantagruel e acaba de receber o prêmio Paulo Rónai (Biblioteca Nacional) por Gargantua – as duas obras publicadas em coedição Ateliê e Editora da Unicamp.
As premiações não apenas tiveram o condão de corroborar o juízo crítico do intelectual como colocaram as traduções de Élide no restrito rol de trabalhos canônicos na área.
Sobram razões para esse reconhecimento. A complexidade é a marca, em múltiplas dimensões, da ficção rabelaisiana. Para além do francês do século XVI, a lista de peculiaridades – gírias, citações, neologismos, trocadilhos, nuances vocabulares, entre outras, fez com que Élide encarasse desafios tidos por muitos como incontornáveis. Nesta entrevista, a tradutora revela como os enfrentou, aborda os critérios adotados em seu trabalho e fala sobre a atualidade do escritor francês.
Jornal da Unicamp – Quais foram os critérios adotados na tradução das obras completas de François Rabelais?
Élide Valarini Oliver – Os parâmetros gerais foram sendo estabelecidos pelo que considero “bem traduzir”, que é um critério ligado a uma noção estética no sentido mais próximo da etimologia dessa palavra, algo como uma harmonia total, um conjunto de elementos que agarram você por serem concisos, belos, proporcionados, bem delineados. Isso envolve, sobretudo, flexibilidade.
Não emprego teorias de fora para dentro, mas busco a fidelidade, de dentro para fora. Fidelidade, aliás, não é sinônimo de literalismo e nem de literarianismo, que são os extremos opostos dos perigos do traduzir. Fazer algo pedestre ou cair no clichê de “recriar” a toda hora, em vez de enfrentar um bom paralelismo ancorado no texto original. Para traduzir, é necessário, antes de mais nada, conhecer muito bem a língua para a qual se traduz em todos seus registros, variantes, etimologia, história, vocabulário, sintaxe. Sem isso, estamos às cegas.
A própria língua oferece criatividade suficiente. Fidelidade, no sentido em que emprego, é mimesis, isto é, imitar o máximo possível todos os aspectos do texto, como o tom, a voz, o ritmo; entrar na música do texto original. Não se pode nem aumentar e nem diminuir o volume aleatoriamente. Isso desequilibra o resultado. Não se pode cantar sozinho. Temos que fazer coro com o texto. Por isso, o tradutor deve, antes de tudo, ser um excelente leitor. Tem que compreender a obra.
JU – É possível exemplificar?
Élide Valarini Oliver – As Memórias Póstumas de Brás Cubas nas versões em inglês têm falhas bem claras, porque não há leitura e compreensão profunda da obra. Compreender em profundidade gera confiança nas soluções que encontramos. Saber várias línguas também ajuda. Isso cria uma rede que aumenta a confiança, quando não um cosmopolitismo, que é muito importante. O provincianismo linguístico é um horror, essa mania de traduzir até nomes próprios, por exemplo, João Sebastião Bach e coisas do gênero.
Uma coisa que não fiz, aliás, foi ler ou consultar traduções da obra para o português. Conhecer o latim e nem que seja o mínimo de grego ajuda muito, não só quando se traduz línguas latinas. Isso possibilita triangulações, pontes. Quanto mais voltamos no tempo, mais as línguas se parecem, e isso abre imediatamente possibilidades de tradução. Finalmente, existe também a dimensão ética. Nossa relação ética para com o texto é a obrigação de não trair, de não suprimir, de não introduzir elementos que não se encontram no texto…

JU – Os métodos foram os mesmos em todos os livros? Foram necessários quantos anos de dedicação?
Élide Valarini Oliver – Então, os critérios não mudaram. O que mudou foi devido à prática de ficar conversando com o Rabelais por mais de 30 anos, isso porque a minha tese de doutorado, que depois se tornou livro, era sobre ele e James Joyce. Foi depois da tese que resolvi me aventurar na tradução. Comecei pelo Terceiro Livro. Não tinha internet e computador era apenas processador de texto. Deu um trabalho imenso consultar bibliotecas, e ainda mais no Brasil, com os recursos depauperados de sempre.
Gastei muito dinheiro importando livros que demoravam para chegar, e a dona da Livraria Francesa, com muita generosidade, me deixava consultar o que eu quisesse. Comecei pelo Terceiro porque, para quase todo o mundo, Rabelais só existe nos dois primeiros livros, Pantagruel e Gargantua. Quem me apoiou muito para me aventurar nessa loucura, nos meados dos anos 1990, foram o Mário Laranjeira e o Philippe Willemart.
Quando terminei, depois de quase dois anos, não havia meio de encontrar um editor que se interessasse ou se aventurasse a publicar. Desisti. Foi quando o saudoso João Alexandre Barbosa, que conhecia a tradução, a recomendou ao Plínio Martins Filho. Fui fazendo o resto da obra já fora do Brasil e com mais recursos de pesquisa. Tudo deu certo, finalmente. E os livros, fisicamente, falam por si mesmos. São um luxo. As coisas no Brasil custam a dar certo. Quando já haviam saído o Terceiro e o Quarto Livro do Pantagruel, me disseram que minha tradução “fazia parte da literatura brasileira”. Esse juízo crítico, acompanhado da publicação, foi extremamente importante para mim. E veio o reconhecimento, com o Jabuti pelo Terceiro, e agora o prêmio Paulo Rónai, concedido pela Biblioteca Nacional, pelo Gargantua.
Na realidade, existem quatro livros envolvendo o personagem Pantagruel. O primeiro é o conhecido do público. Mas Rabelais foi desenvolvendo e transformando esse personagem na medida em que escrevia mais aventuras, e o Terceiro e o Quarto foram ficando cada vez mais filosóficos, e a sátira mais abrangentemente “séria”. O Quinto Livro do Pantagruel é ainda menos conhecido do que o Terceiro e o Quarto e foi publicado postumamente. É fascinante, porque foi “montado” por um amigo dele, também médico, a partir de rascunhos que, se presume, ficaram ao menos em parte com a filha do autor. Espero que esse último volume saia logo.
Fiz também as Prognosticações, os Almanaques e um texto interessante chamado a Sciomaquia, em que Rabelais descreve uma festa em Roma. É o que falta sair. Aliás, adorei preservar o Sc inicial. A língua portuguesa perdeu muito com essa obsessão de casar a ortografia e a língua falada. Não tem nada a ver, na minha opinião. Como eu disse, Pantagruel vai se transformando ao longo da obra, e o autor também.
JU – Como se dá essa transformação?
Élide Valarini Oliver – O Terceiro Livro foi o primeiro que Rabelais assinou com o nome próprio, sem o pseudônimo Alcofrybas Nasier, que é um anagrama de Françoys Rabelais, como se escrevia então. É um livro dificílimo à sua maneira, pois todos os textos de Rabelais são difíceis de maneiras diferentes. Para o tradutor, os desafios também vão mudando. Em termos de vocabulário, tem de tudo na obra dele. Em cada livro, há listas de termos envolvendo peças de vestuário, arquitetura, aves, partes do corpo, tipos de jogos, montaria, armadura, navegação, pratos de comida, animais… na lista de animais venenosos, ele até cita a jararaca, nome que encontrou num livro de viagem da época. E os jogos de palavras intraduzíveis.
Havia dias em que eu ficava completamente esgotada lutando com um parágrafo apenas! Em compensação, com os muitos trechos divertidos, eu traduzia e ficava rindo alto sozinha… Evidentemente, não passei todos esses anos trabalhando só com a tradução do Rabelais.
Ítalo Calvino dá uma excelente definição do que é uma obra clássica. Ele diz, mais ou menos, o seguinte: que quando estamos lendo um clássico, tudo em volta vira apenas rumor, e quando não estamos lendo um clássico, ele é o rumor que fica sempre em torno de nós. É o que aconteceu comigo no caso do Rabelais. Quando eu não estava trabalhando com ele, ele ficava em torno, esperando.
JU – Quais os limites da fidelidade no caso da tradução de Rabelais?
Élide Valarini Oliver – O que me impeliu, durante todos esses anos, foi justamente o desafio da fidelidade. Sem isso, traduzir perde a graça. Se você, a cada desafio, suprime, adapta, inventa qualquer coisa, então não dá. Não faz parte do jogo da tradução. Esse jogo tem regras estritas, mas não escritas, sobretudo no caso do Rabelais, em que a quantidade de paronomásias e os mais incríveis jogos de palavras estão ligados umbilicalmente ao conteúdo
do texto. Eu ia dormir com um trocadilho que não conseguia resolver, e de manhã, muitas vezes, encontrava uma nesga de solução. Nem sempre funciona.
O famoso “intraduzível” só acontece na junção entre contexto, palavra, expressão ou voz. É aí que está o problema do tradutor. Muitas coisas ditas “intraduzíveis” o são porque o tradutor não conhece a sua própria língua e as possibilidades que ela oferece.
O francês, antes do policiamento da Academia Francesa, era bastante livre e, em termos de ortografia, escrevia-se como se queria. Não muito diferente do
português de então. Mas tem coisas mais evidentes, que é preciso manter: a sufixação peculiar do Rabelais, as rimas etc. Tudo o que fiz está bem explicado nas notas que inseri. Fiz uma tradução comentada, e meus comentários ajudam o leitor a entender os contextos da época e as referências contidas no texto.
Também incluí notas sobre tradução: explico os trocadilhos, puns, calembours, homofonias etc. Como faço nota sobre tudo isso, o leitor acaba com uma boa ideia de como Rabelais escreve em francês, mesmo que não conheça o francês do século XVI. Acho fundamental que a tradução mostre a paisagem que foi pintada em outra língua.

JU – E o lugar da oralidade nesse contexto?
Élide Valarini Oliver – A oralidade, quando se manifesta num texto de literatura, não apenas em Rabelais, é sempre o efeito de um texto escrito. É efeito de estilo. Para dar certo, precisa de elaboração retórica. Não pode ser cópia da linguagem falada, porque senão envelhece, como fotografia antiga. Ela é, portanto, um artifício literário. Precisa saber fazer. Não se pode, no entanto, confundir oralidade com retórica do espontâneo, que é o que Rabelais faz em certos trechos. Mas achar que ele só faz isso não tem nada a ver. Pelo contrário, ele mistura um estilo conversacional com uma prosa densa, aliás densíssima, recheada de citações e alusões clássicas.
JU – Como esses registos de linguagem podem ser classificados?
Élide Valarini Oliver – São muitos: erudito, enciclopédico, retórico… Ele vai do informal ao mais formal e mais técnico. Ele descreve, narra e conversa. Quando se leem as poucas cartas que sobraram do autor, fica bem clara a diferença entre o Rabelais “de todo o dia”, por assim dizer, e o Rabelais “escritor”. As cartas são comunicações simples, despojadas. Quando ele está escrevendo literatura, a coisa muda completamente. Ele fazia frequentes
revisões em seus textos e os recheava paulatinamente com trechos recopiados inventivamente dos grandes escritores clássicos; escrevia tendo os livros de Plínio, Plutarco, Aulus Gelius, Luciano e mais um bom número de escritores gregos e latinos ali, abertos na mesa; ele idolatrava o seu contemporâneo Erasmo e o citava para tudo.
A maneira pela qual ele trabalhava pode ser deduzida claramente nas modificações textuais que ele introduz nos trechos inacabados do Quinto Livro. É fascinante ver como ele trabalhava seus rascunhos! Na minha tradução do Quinto livro, copiei e traduzi em notas os trechos originais, como os de Plínio, de Francesco Colonna, do Sonho de Polifiço, para que os leitores tenham uma ideia do trabalho textual do Rabelais. Era um grande leitor, como todo grande escritor.
JU – A senhora diz que, para se traduzir Rabelais, “temos que ser rabelaisianos”. Por quê?
Élide Valarini Oliver – É a mais pura verdade. Assim como, para se traduzir Shakespeare, temos que ser shakespearianos. Acho que é mais fácil entender isso do que tentar explicar… Mas é a experiência do total da obra, do “indizível” da obra, digamos assim, que precisa ser captada. Se a gente perde o ritmo, é porque, como o Gargantua quando pequenininho, pôs a carroça antes dos bois…
Isso ajuda sobretudo nos momentos em que é realmente impossível traduzir, em que o contexto é muito específico, e não dá para manter os trocadilhos que só ocorrem em francês e, muitas vezes, só no francês da época! Em outros momentos, o texto é feito de puro nonsense, sem contexto algum, e aí estamos num mato sem cachorro, nem gato, nem rato. É aí que a gente tem que virar rabelaisiana.
Sabe que, quando eu estava traduzindo o Quarto Livro, acabei decifrando duas coisas que nem os franceses tinham conseguido decifrar? Tudo por causa dessa mania de ir até o fim, até achar uma solução que faça justiça ao autor. Uma foi o uso do termo cela, que não é o usual isso, e a cujo respeito cada editor da obra ou se cala, ou chuta coisas que não têm nada a ver. Fiz uma pesquisa de etimologia, uma viagem entre línguas, e descobri que se trata de subitamente “tomar consciência de alguma coisa”, tipo, “saquei”, “é isso”!
O outro problema dizia respeito a uma expressão que ele usa e que não se encontra em lugar algum em francês. Nesse caso, havia novamente um monte de chutes dos editores – ou silêncio. É a expressão “contrefaire le loup em paille”: descobri que é ficar deitado, prestando atenção em tudo, mas fingindo que se está dormindo. Acabei escrevendo um artigo sobre isso, publicado na França.
JU – Em sua opinião, qual o lugar dos dois primeiros livros de Rabelais no conjunto de sua obra?
Élide Valarini Oliver – São livros que foram escritos ob pseudônimo, como eu disse antes. Rabelais, além de ex-franciscano e monge beneditino, era médico e fazia parte da entourage da poderosa família du Bellay. Ele achou melhor publicar os livros com o anagrama Alcofrybas Nasier. O primeiro livro, o Pantagruel, publicado em 1532, foi um sucesso, com diversas reedições. Aproveitando a onda, Rabelais publicou, após cerca de dois anos, o Gargantua. É como escrever a vida do Luke Skywalker, vender bastante, e depois lançar em seguida o livro sobre o pai dele, o Darth Vader.
Havia, aqui e ali, uma figura de um diabrete que punha sal na boca dos bêbados para que bebessem mais. Rabelais transforma totalmente o diabinho num gigante e o batiza de Pantagruel. Já a figura de Gargantua era uma coisa mais nebulosa, a evocação tem a ver com toponímia, dando nomes a algumas feições geográficas regionais na França; algo assim como o gigante adormecido da baía da Guanabara. A etimologia de Garg é misteriosa, mas por causa da proximidade com o latim e com garganta, Rabelais cria Gargantua.
Quase simultaneamente, apareceram livros anônimos sobre Gargantua, dentre os quais as Grandes e inestimáveis crônicas do grande e enorme gigante Gargantua, que hoje sabemos ter sido em parte escrito pelo próprio Rabelais. Mas esses dois livros já são bem diferentes entre si. Em Gargantua, Rabelais, no prefácio, sinaliza que o leitor deve fazer como o cachorro que fura o osso para chupar o tutano, isto é, buscar nutrição de outra ordem no livro, que não seja apenas humor.
JU – Quais são, em sua opinião, as diferenças entre os dois primeiros livros e as demais obras?
Élide Valarini Rugai – O Terceiro Livro sai muitos anos depois. Só é publicado em 1546, já assinado com nome próprio e com o título de doutor em m medicina. Houve um período de incubação nesse meio tempo. A partir do Terceiro, o gigantismo físico já não importa mais. Interessa mais o gigantismo moral, e Rabelais propõe o pantagruelismo, uma filosofia baseada na virtude da mediania, a vida sem excessos e com tolerância.
Quem não leu Rabelais fica achando que a obra do autor promove os tais banquetes “pantagruélicos” e esse clichê todo de orgias de vinho e comilança. O Quarto Livro traz uma crítica disso. Aliás, uma outra distorção muito comum é achar que Rabelais foi perseguido por causa de obscenidade. Claro que não. Os textos de Martin Luther e de Jean Calvin estavam recheados de linguagem e imagens obscenas, assim como os de Erasmo em suas polêmicas. Isso era comum.
Rabelais foi perseguido pelos teólogos da Sorbonne, que era, na época, uma escola de teologia, porque eles o viam como perigosamente reformista. E os reformistas, quando descobriram que Rabelais era apenas “reformador”, isto é, continuava católico, como Erasmo, começaram a atacá-lo também! Como Erasmo, confessadamente o modelo ideal, Rabelais condenava a venda de indulgências, a superstição, o fanatismo, a corrupção da Igreja e do papa. Assim, o coitado não agradava nem aos gregos, nem aos troianos. Isso fica bem claro com o Quarto Livro, uma sátira genial de tudo isso, num livro estruturalmente impecável! Aí está outro livro que tem muito a dizer ao mundo de hoje, em termos de tolerância, e que alerta contra ideologias fabricadas que, popularmente disseminadas, causam extremismo e violência.

JU – Qual a atualidade do escritor francês?
Élide Valarini Oliver – Ela está em muitos lugares. Como no exemplo que dei acima do Quarto Livro. Agora, veja, em Gargantua, a ironia maior está na atualidade do problema da guerra de invasão, como está acontecendo agora, com a Rússia invadindo a Ucrânia. E na crítica ao imperialismo, muito forte em Rabelais. Claro, trata-se de uma posição nacionalista do autor, no contexto da rivalidade entre o rei da França, François I, e o imperador do sacro império romano-germânico, Carlos V, que regia, na realidade, uma grande parte do mundo, inclusive as colônias espanholas nas Américas.
Mas Rabelais vai além da situação de seu tempo e cria uma tremenda sátira que serve para quaisquer tiranetes com pretensões de conquista e anexação a partir de justificativas espúrias. Ele cria a figura de Picrocole (do grego, bile negra), o reizinho iludido por sua mania de grandeza e rodeado de ambiciosos conselheiros de guerra, como o capitão Merdalha, que só lhe dizem o que ele quer ouvir e prometem que ele conquistará, com extrema facilidade, a Terra toda. É preciso dizer mais? O motivo dessa guerra de invasão é uma suposta ofensa dos camponeses do pai de Gargantua, Grandgousier, contra os padeiros de Picrocole. A guerra resolvida, e os inimigos tratados com dignidade (aqui se vê o idealismo de Rabelais…), o livro termina descrevendo uma utopia na Abadia de Thélème, em que o lema é “faça o que quiser”.
Evidentemente, essa utopia é um retrato da vida na corte da França. Mas fica o lema, que Rabelais tirou de Santo Agostinho.
Já o Pantagruel também lida com o tema da guerra justa e injusta, da luta pelo Bem e contra a barbárie do Mal, do invasor cruel. O ritmo e as peripécias do livro são proverbiais; não há capítulo deste livro que não tenha se tornado famoso: sua genealogia, sua ida a Paris, seu encontro com o personagem Panurge, que é uma das invenções mais criativas de toda a literatura ocidental, inspirado pelo Baldo, livro de Teofilo Folengo (outro beneditino escrevendo sob pseudônimo: “Merlinus Coccaius”), que Rabelais adorava. A figura é intrigante, provocadora, controversa e anima toda a obra. Uma das coisas mais sensacionais desse primeiro livro é a querela judicial entre dois senhores, Beijacu e Sorvepeido. Foi um desafio tremendo traduzir, porque nem um nem outro sabe do que está falando. As palavras vão saindo sem contexto algum. O tradutor fica ali no ar. Mas é um feito de estilo cujos equivalentes só se encontram em textos muito posteriores. Uma mistura de stream of consciousness com nonsense.
O Terceiro Livro é uma discussão filosófica realmente profunda sobre a incerteza de nossas ações no mundo disfarçada de sátira e paródia. Panurge quer se casar, as todos os prognósticos são negativos: vai apanhar da mulher, ser traído e roubado por ela. O episódio dos devedores e emprestadores tem muito a ver com nossas crises econômicas; o problema de Panurge com relação às mulheres traz à tona problemas envolvendo papeis masculinos e femininos; há também uma sátira atroz da corrupção do sistema jurídico e judiciário. Precisa dizer mais?
JU – Na introdução do Quarto Livro, a sra. pontua que, “para se traduzir poesia, temos que ser tradutores-poetas” ou “poetas tradutores”. Em que medida?
Élide Valarini Oliver – É uma questão espinhosa. Há uma diferença entre essas duas posições. Nem todo poeta é bom tradutor e nem todo tradutor é poeta, bom ou mau. Mas traduzir poesia é muito difícil. Uma coisa que acho importante ressaltar é o grau de confiança, esse gesto quase inconsciente que o leitor deposita no tradutor. Sem isso, nada acontece, não há pacto de leitura. E, de tanto ver traduções de poesia que não me convencem, justamente por não confiar “no taco” do tradutor, e não apenas para o português, mas do e para o inglês, francês, italiano, espanhol, alemão etc., acabei ficando que nem o Nabokov, que, ao ver péssimas traduções do Pushkin, achava que a única solução era traduzir o mais literalmente possível, palavra por palavra.
Com línguas que não conheço, penso assim também. Por favor, me deem uma tradução interlinear, palavra por palavra, e deixem comigo, que eu faço a minha tradução…Talvez seja assim porque também escrevo poesia. Mas essa minha posição tem muito a ver com o que mencionei acima, quanto à preferência por traduções que sejam pontes para a língua original. Quando não vejo a ponte, quando querem me “enganar”, fazendo de conta que o autor escreveu na minha própria língua, aí não gosto. Tem que levar em conta não apenas as palavras, mas o contexto cultural. “Salada de batata” evoca coisas diferentes para um brasileiro, um francês, um americano. Por isso, é difícil traduzir.
JU – Qual o lugar da poesia em seu trabalho intelectual?
Élide Valarini Oliver – Acho que, sem a poesia, não conseguiria sobreviver no mundo acadêmico. E, por incrível que pareça, não sei como sobrevivi, porque minha forma de trabalhar intelectualmente é devedora de associações que me vêm da poesia. Meus livros e artigos são escritos, na maioria, a partir de associações que me vêm dessa perspectiva. Ela informa toda a minha maneira de ser. Mesmo que não esteja escrevendo, é essa a forma que tenho de viver no mundo.

JU – E dos ensaios?
Élide Valarini Oliver – Pois é, é isso. Só consigo escrever sobre coisas que me interessam, mas muita coisa me interessa. Não é à toa que gosto do Rabelais. Tenho curiosidade sobre tudo no mundo, e uma coisa leva à outra. Por isso mesmo, a minha abordagem para com a literatura é sempre interdisciplinar, porque vem dessas conexões que acontecem melhor quando a perspectiva é esteticamente informada. Escrevo sobre temas que perpassam tanto a literatura quanto as artes visuais, a música, a filosofia.
Meu livro Joyce e Rabelais: Três Leituras Menipeias nasceu assim. Das minhas reflexões sobre Machado de Assis, nasceu o Variações sob a mesma luz: Machado de Assis repensado. Isso aparece também em meus artigos. A literatura comparada, para mim, é a única forma de se entender literatura. Mas há uma parte da academia que é careta, infelizmente. Não sei se uma carreira assim teria tido sucesso em outro lugar que não a Universidade da Califórnia, nesse campus específico de Santa Barbara, onde sou professora titular de literatura brasileira e comparada, porque aqui há um incentivo, na área de Humanas, para a interdisciplinaridade.
Uma atividade que igualmente adoro é editar o Santa Barbara Portuguese Studies, um jornal de artigos acadêmicos internacional, em linha, que, aliás, acaba de homenagear, com um número especial, os 90 anos de Augusto de Campos. Acabamos de lançar outro volume para os 100 anos de João Cabral de Melo Neto, e os 100 anos do Modernismo no Brasil, e estamos preparando um número em homenagem ao Alfredo Bosi.
Apesar da reviravolta da pandemia em nossas vidas e, no meu caso, de um tratamento seríssimo de saúde no meio de tudo isso, o que me salvou foi justamente continuar escrevendo, mesmo com as bibliotecas fechadas. Acabo de escrever um livro que se chama O Véu da Natureza: Romantismo, Nacionalismo, Modernismo, em que trago a questão do desvendamento dos segredos da natureza pela ciência e pela literatura, abordando a centralidade do descritivo nas formas de conhecimento da natureza, seja pela ciência (os naturalistas no Brasil e nas Américas), seja pela arte e pela literatura. Escrever esse livro no ano passado, com bibliotecas ainda fechadas, foi um grande desafio. É uma ilusão achar que “tudo” está na internet. O sistema de intercâmbio internacional de bibliotecas foi paralisado, os livros de que eu precisava não chegavam.
O livro é uma forma de reavaliar o modernismo brasileiro sob ângulos diferentes. Nisso, entram na discussão a filosofia da ciência, a estética, Kant, Schelling, Alexander von Humboldt, Schiller, Goethe, Machado de Assis, Mário de Andrade, Jean de Léry, Guimarães Rosa, Koch-Grünberg, Chateaubriand, Gonçalves Dias e muitos outros; tem tudo a ver com um repensar do Modernismo e do nacionalismo.
Leia aqui o artigo “Relato pessoal da minha história de leitura de Gargantua e Pantagruel”, da professora Ana Cláudia Romano Ribeiro.
Quem é
Élide Valarini Oliver é professora de literatura brasileira e comparada da Universidade da Califórnia, Santa Barbara. É diretora do Centro de Estudos Portugueses e editora do Santa Barbara Portuguese Studies . É autora de Joyce e Rabelais: Três Leituras Menipeias (2008) e de Variações sob a mesma luz: Machado de Assis repensado (2012). Seu mais recente livro (a sair) é Véu da Natureza: Romantismo, Nacionalismo, Modernismo. É autora, ainda, de Campo Ceifado Agora (2002), uma coleção de poemas, e do inédito Essa quintessência do pó/ This Quintessence of Dust , bilíngue (a sair). Tradutora das Obras Completas de François Rabelais, ganhou o prêmio Jabuti (Terceiro Livro) e o prêmio Paulo Rónai da Biblioteca Nacional (Gargantua ). Ganhou também duas vezes o prêmio internacional de Monografias do Itamaraty por trabalhos sobre Machado de Assis e Lima Barreto.