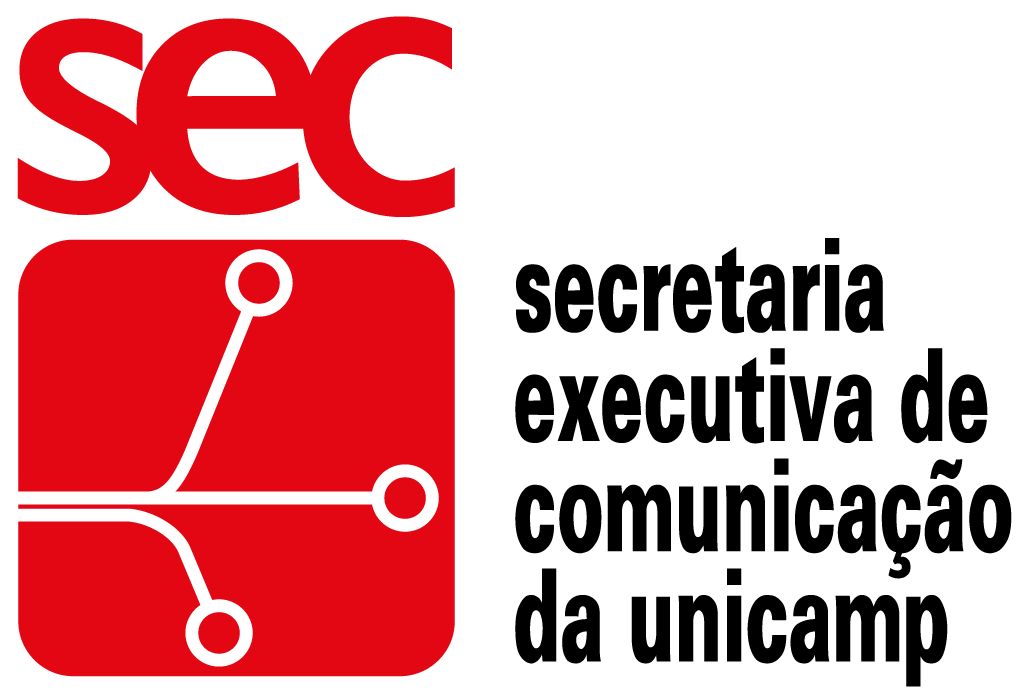O doutor pediu para chamar a família de seu João. Estavam esperando na sala de visitas do centro cirúrgico, para onde seu João fora enviado após um infarto na madrugada. A situação era crítica.
— As artérias estavam bastante comprometidas, por isso fizemos uma ponte de safena. É um procedimento muito simples. A operação foi um sucesso.
D. Maria deu um suspiro de alívio. Seu marido estava salvo e, com alguns cuidados, iria se recuperar por completo.
Ao acompanhar as notícias na manhã do dia 28 de outubro, devo ter ouvido
“A operação foi um sucesso”, pelo menos, umas dez vezes. Meu cérebro, no entanto, custava a conectar a frase proferida pelos paladinos da ordem às imagens dos mais de 70 corpos dispostos em uma longa fila, ladeada por mulheres aos prantos. Eram muitas corajosas “marias” à procura de uma tatuagem, um anel, um sinal de nascença, que pudesse indicar que aquele era o joão de Maria e não o joão de Antonia ou o joão de Francisca. O joão de Maria não tinha cabeça, nem braços, mas tinha uma tatuagem, o que era um passaporte para um enterro digno.
Desde que vi essa imagem, celebrada pelos adeptos do mote “bandido bom é bandido morto”, encuquei com a régua usada pelas ditas autoridades para definir o sucesso da operação chamada sadicamente de “Operação Contenção”. Na ocasião da notícia da matança, estava relendo Quarto de Despejo de Carolina de Jesus para uma aula e não pude deixar de refletir sobre como a Penha e o Alemão continuam sendo “quarto de despejo” da sociedade brasileira – e o Morro da Misericórdia, uma imensa vala comum, de onde as muitas marias davam um jeito de retirar os joãos que eram seus.
Parece-me que o critério de sucesso usado pelas autoridades em finais de outubro passado não se aplica somente a essa operação. O mesmo discurso que defende o extermínio como a forma mais eficaz de combater a criminalidade esteve presente na Chacina de Vigário Geral, com 21 mortos, em 1993; na Chacina da Baixada, com 29 mortos, em 2005; na de Jacarezinho, de 6 de fevereiro de 2021, com 29 mortos. Segundo o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI), da Universidade Federal Fluminense (UFF), entre 2007 e 2021, somente na Região Metropolitana do Rio, ocorreram 593 chacinas, com 2.374 mortos.
Ainda que não consiga pôr fim ao crime organizado – porque os que estão no topo da facção não moram na comunidade, e os que estão abaixo em breve serão substituídos –, a fórmula mantém vivo o ideário higienista por trás da necessidade de manutenção da ordem, ou melhor, de uma dada ordem. Concebida por médicos e engenheiros sanitaristas em finais do século XIX e início do XX, tal política visa mapear e eliminar as ditas “classes perigosas”, não raro pretos e pobres, ainda hoje. Teorias como a do médico Raimundo Nina Rodrigues, que imputava à cor da pele a propensão à criminalidade, têm dado o aval para a prisão e a morte dos perturbadores da ordem republicana por, pelo menos, um século e meio.
O discurso da limpeza – pensada como extermínio – em prol do progresso e da ordem não somente embasou numerosos projetos de intervenção urbana ao longo da história da cidade no Brasil, mas a própria ideia de res publica vigente entre nós, de consequências muito mais graves. A transformação da destruição em espetáculo civilizacional, do vilipêndio das comunidades em “operações de sucesso”, já figurava na primeira página da edição de 27 de janeiro de 1893 do jornal O Paiz: “A administração pública teve de ser estratégica, o bote, que não pôde ser dado terça-feira, realizou-se de surpresa ontem. Foi um espetáculo bonito. Não existe mais o famigerado antro.” A euforia com que os redatores anunciavam a derrubada do Cabeça de Porco, uma “obra gigantesca, revolucionária”, à qual “o povo assistia extasiado”, mal se continha: “como se aos golpes ruidosos, em vez de rolarem pedras, rolassem crenças, ruíssem tradições.”
Muito antes do surgimento do crime organizado em finais dos anos 1970, as autoridades responsáveis pela execução de políticas públicas em espaço urbano já se muniam do argumento higienista para justificar o ocultamento dos indesejados. A demolição do Morro do Castelo em 1922 fez deslocar contingentes populacionais para o morro do Pinto e para morro do Santo Antônio, o qual também seria alvo de remoção completa durante o governo do estado da Guanabara por Carlos Lacerda no início dos anos 60. Alguns anos antes, em um sábado de junho de 1958, a estratégia era anunciada no Correio da Manhã: “para a abertura das Avenidas Perimetral e Diagonal, obras tais, sem dúvida arrojadas, foram expedidas providências especiais, notadamente quanto à desapropriação em massa do centro comercial da cidade”. Em 1961, foi a vez de a Canindé ser posta abaixo para abrir espaço à expansão da marginal Tietê.
Por outro lado, entre os anos de 1971 e 1974, durante a maior epidemia de meningite que o país já conhecera, o governo militar adotou uma estratégia inversa, embora igualmente higienista: manteve a população carente nas favelas, morrendo aos montes, enquanto as poucas vacinas eram destinadas aos ricos. Uma “operação de sucesso”, marcada pela desinformação e pela disseminação de notícias falsas, que fazia da favela um cemitério a céu aberto. Dez anos depois da canção de Zé Keti, a voz do morro, que denunciava que a gente dali morria sem querer morrer, Gonzaguinha, na composição “Tá certo, doutor”, de 1974, pedia: “Dá licença, dá licença: olha o menino com meningite passando, afasta aí, afasta aí.” E o doutor? Continuava chegando tarde demais.
O que têm em comum as ações acima enumeradas e os 120 mortos no Rio de Janeiro na última semana de outubro? Todas podem ser consideradas “operações de sucesso”, porque seguem à risca os mandamentos do higienismo à brasileira. Todas escancaram o fato de que a cidadania continua sendo privilégio de poucos. A segurança pública separa os “homens de bem” das “classes perigosas”, que devem ser exterminadas e não julgadas. O direito à habitação e à privacidade são negados à população mais pobre, que tem seus lares invadidos ora pelo crime organizado, ora, com igual ou maior violência, pela polícia.
Nem mesmo o direito que cada um tem de enterrar seus mortos, tornado imortal na tragédia de Antígona e consagrado por tantas culturas, é universal. D. Maria que trate de buscar o joão que é seu na mata da Serra da Misericórdia e que tenha a sorte de, em meio a uma cena digna de Guernica, encontrá-lo com braços, pernas e cabeça.
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.
Foto de capa: