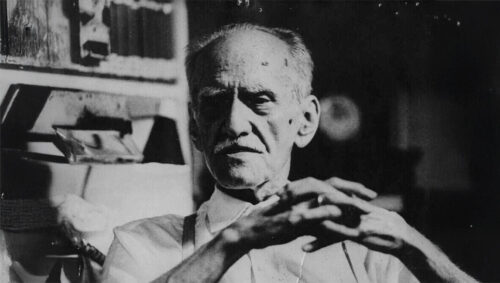Poucas culturas agrícolas sintetizam de forma tão clara os dilemas do desenvolvimento brasileiro quanto a soja — ou “o” soja, como dizem alguns produtores, um atalho para “o feijão-soja”. Em pouco mais de meio século, o Brasil deixou de ser um importador marginal da leguminosa para se tornar o maior produtor e exportador mundial, com uma cadeia produtiva que articula tecnologia de ponta, vocação territorial e força competitiva. A soja contribui decisivamente para a balança comercial, para a arrecadação de Estados e municípios, para a interiorização do desenvolvimento e para a consolidação do país como potência agroalimentar global.
Esse protagonismo, no entanto, não está isento de controvérsias. À medida que a produção se expandiu, também cresceram as críticas relativas aos impactos socioambientais do modelo dominante, baseado na monocultura em larga escala, no uso intensivo de insumos químicos e na pressão sobre biomas sensíveis, como o Cerrado e a Amazônia. As tensões entre a produção e a conservação, a eficiência econômica e a justiça social, a tecnologia e a sustentabilidade encontram-se no centro do debate contemporâneo sobre o papel da soja no Brasil.
Nossa reflexão parte do reconhecimento da relevância estratégica da soja para a economia e a sociedade brasileira, mas não ignora os custos e riscos associados à sua forma de produção. O objetivo deste texto é contribuir para uma análise mais qualificada, que vá além dos discursos polarizados e que aponte caminhos viáveis de transição para sistemas produtivos mais sustentáveis, resilientes e inclusivos. Como, aliás, estão a exigir a sociedade brasileira e os mercados internacionais.
A força da soja na economia brasileira
A ascensão da soja à condição de carro-chefe do agronegócio brasileiro oferece uma das mais notáveis histórias de transformação produtiva e territorial do país. Introduzida com fins experimentais na Região Sul, a cultura encontrou sua maturidade técnica e econômica no Cerrado brasileiro — uma região que, até poucas décadas atrás, era considerada marginal para a agricultura moderna, em razão da acidez do solo e da baixa infraestrutura. Graças ao esforço coordenado de instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de universidades e de agricultores pioneiros, a “tropicalização da soja” permitiu transformar milhões de hectares antes subutilizados em áreas produtivas de alta performance.
Hoje, o Brasil lidera a produção global de soja, com 168 milhões de toneladas colhidas na safra 2024/25, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O cultivo ocupa cerca de 40 milhões de hectares e representa uma parcela significativa do valor bruto da produção agropecuária. A exportação de grãos e derivados constitui uma das maiores fontes de divisas do país, sendo um dos pilares do superávit comercial brasileiro. A cadeia da soja contribui diretamente para a arrecadação de Estados e municípios, para a geração de empregos, para o dinamismo econômico de centenas de municípios do interior e para inverter o fluxo migratório do interior do Brasil rumo às megalópoles situadas no litoral.
Mas a importância da soja não se limita à produção e exportação do grão. Ela está no centro de uma complexa e extensa cadeia produtiva que articula múltiplos segmentos da economia: indústrias de sementes, fertilizantes e defensivos; máquinas e equipamentos; transporte, armazenagem e comercialização; e, sobretudo, as cadeias agroindustriais que dependem do farelo e do óleo de soja. Além das já conhecidas avicultura e suinocultura — cuja competitividade global depende diretamente da soja como insumo-chave para a ração animal —, destacam-se também a cadeia de lácteos, cada vez mais tecnificada e integrada. Considere-se, ainda, a indústria de biodiesel, na qual o óleo de soja responde por mais de 70% da matéria-prima utilizada no Brasil.
O impacto da soja se estende ainda à segurança alimentar, um aspecto frequentemente negligenciado por seus críticos. Ao fornecer proteína vegetal de alta densidade nutricional e ser insumo central na produção de carnes, leite e ovos, a soja é uma das principais responsáveis pelo abastecimento alimentar tanto no mercado interno quanto internacional. Em um mundo que busca garantir alimentação acessível para uma população crescente, a soja brasileira cumpre um papel estratégico — direta e indiretamente — no combate à fome e à desnutrição. A crítica recorrente de que a produção de soja compromete a segurança alimentar ignora essa contribuição essencial, além de desconsiderar que a maior parte da insegurança alimentar no Brasil decorre de desigualdades no acesso à renda — e não da escassez de alimentos.
Outro aspecto fundamental, e frequentemente subestimado, é a dimensão geopolítica da soja. A cultura serviu como vetor de ocupação produtiva de imensas áreas do território nacional que, até os anos 1970, eram consideradas inaptas ou secundárias para o desenvolvimento agrícola. Ao integrar o Cerrado e, posteriormente, as fronteiras agrícolas do Cerrado nordestino ao circuito da modernização, a soja promoveu a interiorização do desenvolvimento, levando infraestrutura, investimentos e oportunidades para regiões antes marginalizadas no processo de crescimento econômico. Isso reduziu desigualdades regionais, fortaleceu o mercado interno e ampliou a presença brasileira nas cadeias globais de valor. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), os municípios onde o complexo produtivo liderado pela soja se consolidou ostentam os mais elevados Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs).
Por fim, a soja é também uma expressão da capacidade brasileira de gerar conhecimento aplicado, adaptar tecnologias e criar soluções tropicais para a produção em larga escala. O salto de produtividade da cultura nas últimas décadas é resultado direto da combinação entre pesquisa científica, empreendedorismo rural e políticas públicas indutoras. Essa capacidade de inovação coloca o Brasil em uma posição de destaque não apenas como produtor, mas como referência global em agricultura tropical de alta performance.
Dialogando com as críticas e controvérsias
A consolidação da soja como principal cultura comercial do Brasil tem sido acompanhada por um crescente volume de críticas, oriundas sobretudo de setores ambientalistas e acadêmicos e da sociedade civil organizada. Embora muitas dessas críticas expressem preocupações legítimas — especialmente quanto à sustentabilidade de longo prazo —, é fundamental examinar com atenção os fundamentos dessas avaliações, distinguindo diagnósticos consistentes de generalizações apressadas ou leituras descontextualizadas.
O primeiro ponto refere-se à relação entre a soja e o desmatamento. É inegável que parte da expansão da cultura ocorreu por meio da incorporação de novas terras, sobretudo no Cerrado. No entanto é preciso lembrar que o avanço da fronteira agrícola tem sido, historicamente, a base da estratégia de crescimento agropecuário no Brasil. Durante boa parte do século XX, a expansão territorial foi o principal motor da produção de alimentos, sustentada por um modelo extensivo, de baixa produtividade e fortemente dependente de mão de obra barata. A soja rompeu parcialmente com esse padrão. Embora também tenha se apoiado na ocupação territorial, sua expansão foi liderada por migrantes do sul do país, com base em mão de obra familiar qualificada, alta tecnificação e ganhos expressivos de produtividade. Em muitos casos, não houve desmatamento direto, mas sim a substituição de áreas de pastagem extensiva, ou áreas antropizadas por cultivos anteriores — que haviam sido abandonadas —por agricultura mecanizada, resultando em maior eficiência no uso da terra.
Outro conceito frequentemente invocado de forma simplificada é o da monocultura. Ainda que a soja seja, de fato, a principal cultura em diversas regiões, é incorreto afirmar que seu cultivo se dá de forma isolada ou repetitiva. Desde os primeiros anos de sua expansão no Cerrado, a soja tem sido sistematicamente associada ao cultivo de milho, sorgo ou braquiária em sistemas de sucessão ou consórcio, especialmente no verão-outono. Essa prática, amplamente adotada, melhora a qualidade do solo e contribui para o equilíbrio do sistema produtivo. Trata-se, portanto, de um modelo intensivo em conhecimento e manejo, que desafia a visão reducionista de uma monocultura estática e degradante.
Essa trajetória de sucesso produtivo e tecnológico, no entanto, também levanta debates sobre a estrutura agrária associada à cultura da soja e seus impactos na distribuição de renda.
A escala da produção de soja no Brasil é, de fato, impressionante — especialmente nas regiões do centro-oeste e nas novas fronteiras do Cerrado nordestino, onde predominam médios e grandes produtores, com áreas de cultivo que podem superar milhares de hectares. Essa característica tem alimentado críticas quanto à concentração fundiária e de renda, com frequente associação ao latifúndio e à exclusão social. No entanto, embora essas críticas se baseiem em aspectos reais da estrutura agrária em certas regiões, desconsideram dimensões importantes da cadeia produtiva.
Em primeiro lugar, ignoram que a produção de soja nos Estados do sul, notadamente no Paraná e no Rio Grande do Sul, continua fortemente ancorada na agricultura familiar, organizada em torno de cooperativas modernas, eficientes e integradas aos mercados globais. Em segundo lugar, negligenciam o fato de que a cadeia da soja é intensiva em serviços, tanto à montante quanto à jusante: desde o fornecimento de insumos, crédito, assistência técnica e máquinas, até o transporte, beneficiamento, armazenamento, comercialização e exportação. Esse dinamismo cria uma densa rede de negócios e empregos nas cidades médias e pequenas, movimentando setores como comércio, finanças, tecnologia e serviços especializados. Assim, mesmo quando a produção ocorre em grandes propriedades, seus efeitos econômicos se distribuem amplamente, com forte capacidade de indução ao desenvolvimento regional.
A crítica ao modelo social da soja frequentemente se apoia na alegação de que a mecanização reduziu a demanda por trabalho no campo, intensificando a concentração de renda e excluindo trabalhadores. No entanto essa leitura ignora duas transformações centrais. Em primeiro lugar, a qualidade do trabalho nas fazendas de soja mudou radicalmente: operadores de máquinas, técnicos agrícolas, gestores e especialistas em agricultura digital compõem hoje uma força de trabalho mais qualificada, com remuneração superior e melhores condições laborais.
Trata-se de um salto em relação ao passado, quando grande parte da mão de obra rural vivia em condições precárias e, em muitos casos, degradantes — que hoje seriam inadmissíveis sob qualquer perspectiva legal ou moral. Em segundo lugar, os efeitos da soja sobre o emprego não se limitam à porteira. A cadeia movimenta serviços bancários, seguros, transporte, consultoria técnica, tecnologia, comércio e educação, gerando milhares de empregos urbanos, formais e qualificados. É nesse entrelaçamento entre o campo e a cidade que reside grande parte da força transformadora da soja no Brasil contemporâneo.
No debate sobre os defensivos agrícolas, também se impõe maior rigor analítico. A chamada “tropicalização” da soja — ou seja, sua adaptação a condições edafoclimáticas radicalmente distintas das do clima temperado — implicou inevitavelmente um maior uso de insumos químicos, dada a intensa pressão de pragas, doenças e plantas daninhas em ambientes tropicais úmidos e quentes. Além disso, a intensificação da agricultura nas áreas subtropicais e tropicais, ocupando o solo praticamente durante 365 dias por ano, cria uma “ponte verde” que favorece a ocorrência de pragas por períodos mais longos.
Comparações diretas com a agricultura de países temperados, onde há invernos rigorosos e menor biodiversidade de organismos fitopatogênicos, são tecnicamente inadequadas. Além disso, é natural que uma cultura ainda incipiente nos anos 1970 demandasse poucos insumos — o que torna desproporcionais algumas comparações retrospectivas que sugerem supostas “quedas de eficiência”.
Outro tema que suscita interpretações enviesadas é a aprovação de novos defensivos no Brasil. Em 2024, mais de 660 novos produtos foram registrados, o que levou alguns setores a interpretar esse número como sinal de deterioração ambiental ou excesso de permissividade regulatória. No entanto esse volume precisa ser entendido em seu contexto: houve, durante anos, um represamento de análises técnicas e avaliações toxicológicas que retardou a liberação de compostos já amplamente utilizados em outros países. Muitos dos produtos recentemente aprovados são formulações mais modernas, mais eficazes e menos nocivas, destinadas a substituir moléculas antigas com perfis toxicológicos mais agressivos. Também ocorreu a aprovação de novas marcas comerciais do mesmo ingrediente ativo (mormente os genéricos). É razoável perguntar: quando se aprova um novo medicamento no país, ou são liberados genéricos do mesmo medicamento, isso representa uma ameaça à saúde pública ou um avanço na oferta terapêutica ou redução de custos ao consumidor? O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao setor agrícola.
Nada disso elimina a necessidade de um monitoramento rigoroso, pesquisa contínua e o aprimoramento dos marcos regulatórios. Mas o debate sobre o uso de agroquímicos no Brasil precisa ser mais técnico e menos ideológico, reconhecendo que o uso responsável e cientificamente orientado desses produtos é uma condição predominante na produção tropical em larga escala.
Por fim, vale observar que, apesar das críticas, a cadeia da soja tem demonstrado notável capacidade de adaptação, incorporação de inovações e busca por soluções mais sustentáveis. Como veremos a seguir, há um conjunto crescente de iniciativas — muitas delas lideradas por produtores, cooperativas e centros de pesquisa — que sinalizam uma inflexão rumo a sistemas produtivos mais resilientes, diversos e ambientalmente integrados.
Respostas do setor e caminhos para a sustentabilidade
Frente aos desafios que acompanham sua expansão, a cadeia da soja tem demonstrado notável capacidade de resposta. Longe de estar paralisado diante das críticas, o setor vem promovendo, de forma crescente, inovações técnicas, mudanças organizacionais e estratégias de transição voltadas à sustentabilidade econômica, ambiental e social. Em muitos casos, essas respostas partem não apenas de políticas públicas ou da academia, mas dos próprios agricultores, cooperativas e empresas, que reconhecem os limites do modelo vigente e os riscos da inação em um mundo cada vez mais atento às credenciais ambientais dos produtos agropecuários.
Entre os caminhos mais promissores, destaca-se a adoção dos sistemas integrados de produção, em especial a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), que hoje ocupa milhões de hectares e é reconhecida internacionalmente como uma inovação tropical de grande impacto. Ao diversificar o uso da terra, melhorar a cobertura vegetal e aumentar o sequestro de carbono, a ILPF contribui simultaneamente para a produtividade e a sustentabilidade, reduzindo riscos econômicos, a erosão do solo e a pressão por novas áreas. Essa tecnologia, cada vez mais difundida, demonstra ser possível intensificar a produção de forma regenerativa, respeitando os limites ecológicos dos sistemas.
Também é crescente o uso de bioinsumos, como inoculantes, biodefensivos e biofertilizantes. A própria soja é um exemplo histórico de sucesso da fixação biológica de nitrogênio, tecnologia desenvolvida e aprimorada pela pesquisa nacional — com destaque para os trabalhos da pesquisadora Mariangela Hungria, agraciada em 2025 com o Prêmio Mundial da Alimentação, considerado o Nobel da agricultura. Essa inovação permite prescindir do uso de fertilizantes nitrogenados em larga escala, não apenas para a soja, mas deixando um “saldo” no solo para os cultivos posteriores.
Atualmente, pesquisas avançam na introdução de soluções biológicas também para o controle de pragas e doenças, com resultados promissores em diferentes biomas e sistemas produtivos. Embora a adoção ainda enfrente barreiras logísticas e regulatórias, o potencial dos bioinsumos como alternativa — ou complemento — ao manejo químico convencional é significativo.
Outro vetor fundamental é a agricultura digital. Com o uso de sensores, drones, imagens de satélite, modelos preditivos e softwares de gestão, os produtores têm hoje maior capacidade de tomar decisões com base em dados, reduzindo desperdícios, otimizando o uso de insumos e garantindo maior rastreabilidade. Essas tecnologias tornam possível aplicar defensivos e fertilizantes de forma localizada e precisa, evitar sobreposições, antecipar infestações e monitorar variáveis ambientais em tempo real.
Além das inovações técnicas, merece destaque o avanço da chamada logística verde, com esforços para reduzir a pegada de carbono nas etapas de transporte, armazenamento e exportação da soja. A rastreabilidade socioambiental também tem ganhado força, impulsionada tanto pela pressão de compradores internacionais quanto pelo interesse crescente do próprio setor em assegurar transparência e responsabilidade. Programas de certificação, plataformas de monitoramento de desmatamento e iniciativas por cadeias livres de ilegalidade estão em desenvolvimento com a participação de múltiplos atores.
Entretanto, apesar desses avanços, o Brasil ainda carece de uma estratégia nacional integrada para a sustentabilidade da soja. Faltam políticas públicas articuladas, metas claras e incentivos que premiem boas práticas de forma sistemática. O crédito rural, por exemplo, ainda não diferencia suficientemente entre sistemas convencionais e sustentáveis. A regulamentação de bioinsumos permanece fragmentada, e os programas de assistência técnica não alcançam grande parte dos produtores médios e pequenos. Assim, o esforço pela transição ainda está demasiadamente concentrado em iniciativas voluntárias ou locais, o que limita sua escala e efetividade.
Mesmo assim, o setor da soja brasileiro já não é o mesmo de décadas atrás. Ele opera em um ambiente global complexo, que exige simultaneamente eficiência econômica e responsabilidade ambiental. Ao transformar parte dessas exigências em oportunidades de inovação e diferenciação, o Brasil pode não apenas manter sua posição de liderança, mas torná-la ainda mais estratégica — como referência mundial em produção tropical sustentável.
Conclusão
A soja é, sem dúvida, um dos pilares da agricultura brasileira contemporânea — em valor econômico, impacto territorial, peso geopolítico, sustentabilidade e capacidade tecnológica. Sua trajetória, construída ao longo de décadas com base em ciência, empreendedorismo e investimentos públicos e privados, transformou o Brasil em uma das maiores potências agrícolas do planeta. A cultura responde por parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário, viabiliza cadeias inteiras de proteína animal, movimenta exportações, gera empregos e contribui para a segurança alimentar nacional e global.
No entanto esse protagonismo impõe também responsabilidades. As críticas dirigidas à cadeia da soja — especialmente no que diz respeito ao desmatamento, à pressão sobre recursos naturais e à sustentabilidade de longo prazo — não devem ser vistas como ameaças ao setor, mas como alertas valiosos que precisam ser acolhidos com seriedade. Em particular, o desmatamento ilegal, ainda presente em diversas regiões de expansão agrícola, compromete não apenas biomas estratégicos, mas também a reputação internacional do Brasil e as próprias bases hídricas que sustentam a produção. E, no limite, podem servir como argumento espúrio para barreiras às nossas exportações. A preservação da Amazônia e do Cerrado não é uma concessão a agendas externas: é uma condição estratégica para a continuidade da produção e da vida e também para a expansão e manutenção de mercados.
Infelizmente, parte do setor ainda não parece convencida da urgência desse desafio. Há segmentos que resistem a reconhecer a importância da agenda climática e ambiental, minimizam os impactos da degradação dos ecossistemas e se alinham a forças políticas associadas ao retrocesso em matéria ambiental e social. Essa contradição entre a modernização econômica e o alinhamento institucional ao atraso macula a imagem de um setor que, sob muitos aspectos, é vanguarda em tecnologia, inovação e competitividade.
A superação desse impasse exige mais do que ajustes técnicos. É preciso reposicionar o agronegócio brasileiro — e, em especial, a cadeia da soja — como um setor comprometido não apenas com a produtividade, mas com a responsabilidade ambiental, a transparência e a equidade. Isso implica fortalecer instituições públicas de pesquisa, aprimorar os marcos regulatórios, fomentar boas práticas e assegurar que os ganhos econômicos não se façam à custa do patrimônio natural e social do país.
A soja continuará a ser um componente central da agricultura e da economia brasileira. Mas seu futuro dependerá da capacidade de seus agentes de compreender que, no século XXI, liderar não é apenas produzir mais — é produzir melhor, com respeito aos limites do planeta, às comunidades envolvidas e às expectativas da sociedade. O setor tem capital, inteligência e estrutura para isso. Faltam, a alguns, a visão política e o compromisso histórico.
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp
Antônio Márcio Buainain é professor do Instituto de Economia (IE) da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos em Economia Aplicada, Agrícola e do Meio Ambiente (CEA/IE) e do nstituto de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento/ (INCT/PPED) e membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS).
Foto de capa: