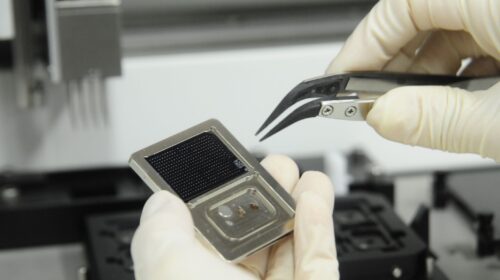Outubro de 1968. Durante a ditadura civil-militar brasileira, docentes e estudantes do Movimento Estudantil enfrentam ataques do Comando de Caça Comunista, o CCC, vindos do outro lado da rua Maria Antônia, região central da cidade de São Paulo. O evento ficou conhecido com palavras bem precisas: “A Batalha dos Estudantes”. Passeatas e manifestações estudantis marcam o local, mas, naquele curto período, as hostilidades admitiram a violência, e a rua viveu uma batalha: xingamentos, ovos, pedras, rojões, coquetéis Molotov, tiros, prisões. Em 24 horas, um estudante secundarista é morto, um edifício público é incendiado, dezenas de estudantes são presos.
Esta página da história é contada no filme “A Batalha da rua Maria Antônia”, que acaba de chegar ao circuito comercial de cinema. Não é um documentário. Mas a forma escolhida para apresentar a narrativa sugere essa relação estreita com o que foi documentado, registrado para a história. Utiliza filmes de 16mm, em preto e branco, como se abrisse um álbum de fotografias deixado em algum canto da memória. Também não é uma invenção. É um longa-metragem ficcional. Em cerca de uma hora e meia, narra por meio de 21 planos-sequência uma ficção histórica baseada em fatos dramáticos, vividos e registrados por diversos meios.
As tensões que alimentaram o confronto entre estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP) e da Universidade Presbiteriana Mackenzie opunham não apenas duas instituições então situadas em lados opostos da mesma rua, mas sobretudo posições antagônicas em termos políticos. Seriam dois extremos, dois lados de uma crescente polarização política, se lhes emprestássemos palavras atuais.
De um lado, organizava-se o movimento de estudantes em forte oposição ao governo civil-militar instaurado por meio de golpe em 1964. Os enfrentamentos foram constantes desde o primeiro dia, e naquele 1968 já estavam marcados pela morte do estudante Edson Luís de Lima Souto, em março, e por protestos como a Passeata dos Cem Mil, em julho, ambas no Rio de Janeiro.
Do outro lado, o CCC, fundado em 1962 por João Marcos Flaquer (apelidado de “Flaquer, o Sutil”), infiltrava-se no Mackenzie. Ele já havia liderado, em julho daquele mesmo ano, o ataque do grupo ao elenco da peça teatral “Roda Vida”, escrita por Chico Buarque e dirigida por Zé Celso. Equipamentos depredados, 19 atores feridos. Objetivo do ataque: cortar a via subversiva que o teatro assumia.
Essa é a ambiência da batalha. Um desafio decidir a partir de onde e quando enquadrar uma narrativa que não começa nem termina ali.
Os fatos vividos na rua Maria Antônia entre os dias 2 e 3 de outubro de 1968 são narrados no filme em vívida sintonia com esse ambiente, sem que seja preciso mencionar mobilizações contra a ditadura ou as centenas de prisões de estudantes que ocorreriam apenas alguns dias depois, no 30º Congresso da UNE, em Ibiúna. Aquele ano seria surpreendido ainda, apenas dois meses depois, com o Ato Institucional número 5, o AI 5, que suspendeu os direitos constitucionais e abriu espaço para uma perseguição sem precedentes à oposição ao regime, prolongada por uma torturante década, entre dezembro de 1968 e janeiro de 1979.
Mas onde deve começar uma narrativa como essa? Onde começa essa história?
A narrativa é conduzida por uma câmera nervosa, que nos deixa encarar de perto os sentimentos das personagens, entre temores e coragem. A ação predomina, sempre conduzida pelo olhar de seus agentes. Algumas cenas flagram um jovem com uma câmera fotográfica, talvez homenagem ao fotógrafo e ex-estudante de arquitetura Hiroto Yoshioka, que flagrou aquela batalha naquele outubro. Deixou preciosos registros de uma batalha difícil de narrar e compreender sem contexto ou testemunha.
Apesar de referências indiretas a registros como esses, poucas cenas no filme pautam o tempo histórico. Ele está nas entrelinhas do compasso do tempo da espera, cada vez mais tensa, diante do acirramento das hostilidades, marcando do início ao fim a narrativa. Acordes de um violão que ensaiam uma melodia no pátio interno da faculdade parecem marcar essa espera em vários momentos. Uma única vez, o violão prossegue, ecoando no pátio silencioso a voz da atriz Clara Buarque, cantando justamente Roda viva. Evocaria, talvez, que a arte segue, resistente e subversiva. “O tempo rodou num instante…” No filme, o tempo roda em 21 quadros que parecem remeter aos 21 anos da ditadura no país.
Por que narrar essa história, hoje? Como narrar uma história dessas? Melhor do que especular razões das escolhas, parece ser crucial pensar por que motivos vale a pena narrar essa história. A pergunta seria então um pouco diferente: o que a narrativa quer colocar em pauta?
Não me parece possível responder prontamente a essas questões diante das cenas intensas de “A batalha da rua Maria Antônia” sem considerar os sentimentos e as paixões políticas como ingredientes centrais dessa história exibida em preto e branco, acentuando contrastes. Muitos elementos conjugados no filme sublinham esses ingredientes.
A narrativa começa e termina na rua. No primeiro plano-sequência, acompanha de perto uma estudante a caminho da aula de filosofia, com passos decididos pela calçada. Esbarra em estudantes do Mackenzie, caminhando em sentido oposto – prenúncio do conflito que seria acompanhado pelas câmeras, expondo emoções e tensões quase à flor da pele. Podem ser sentidos os contrastes na própria história narrada, nas tramas tecidas, nas tomadas escolhidas, nas personagens destacadas (e nas relegadas), nos cenários reinventados, na montagem tensionada, na economia sonora, nos planos-sequência que organizam toda a narrativa. O que emerge desses elementos ao final nos toma, nos comove, nos move. A partir disso, não parece ser fortuita a sequência final. Ao encerrar, novamente é a rua o cenário, mas dessa vez abrindo espaço para a manifestação contundente de estudantes, resistentes, enfrentando a repressão: “abaixo a ditadura!”
A diretora e roteirista Vera Egito parece querer deixar explícitas as escolhas feitas para narrar uma história dessas, sobre por que pautar essa batalha hoje. Colocam-se ao menos duas perspectivas. No primeiro plano, o lado da rua a partir do qual narra, do movimento estudantil que em 1968 protagonizou o enfrentamento à ditadura. Depois, mas sem importância secundária, o entrelaçamento entre dimensões público e privada das personagens, entre sentimentos e compromissos de toda sorte. Ao final da história, sabemos sobre o CCC e sobre os ataques vindos do outro lado da rua apenas pelos olhos de quem estava na USP. Por outro lado, mergulhamos nas convicções e engajamentos, sem desviar de dúvidas e angústias de jovens estudantes que a um só tempo aprendiam a tomar posição pública diante dos dilemas políticos e a vivenciar os dramas de suas incertezas pessoais. Essas escolhas ao narrar parecem capazes de elevar ao máximo a tensão e a emoção ao chegarmos ao fim da narrativa. Elas colocam diante de nós a impossibilidade de ignorar seus efeitos: sejam dos 21 anos de ditadura sobre nossa história, seja dos 21 planos-sequência diante de cada vida que mobiliza, seja dos sentimentos e emoções sobre nossas relações sociais e políticas.
É interessante considerar o percurso do próprio filme. Vencedor do Festival do Rio de Janeiro em 2023, foi dirigido por Vera Egito e produzido pela Paranoïd Filmes em parceria com a Globo Filmes. Segundo a cineasta, o projeto começou a ser rascunhado em 2009, mas só saiu do papel em abril de 2022, quando foi filmado em 12 dias, utilizando como locação os edifícios históricos da Secretaria de Justiça e Cidadania, no Páteo do Colégio, no centro de São Paulo. A simetria entre os dois edifícios, que difere do cenário original da batalha, acentua a proximidade desses dois lados de uma disputa de ideários que estava muito longe de um desfecho. É difícil evitar pensar que, em 2022, muitos lugares poderiam acolher a filmagem. Seria o ano em que a batalha entre “dois lados da rua” tomou as dimensões do país, de modo dramático.
Não é apenas outubro de 1968. “A Batalha da rua Maria Antônia” nos convida a olhar para nós mesmos. Convida a encarar os modos como nos encontramos e nos esbarramos na rua, no espaço público que compartilhamos. Ela nos convoca a olhar para o passado e reconsiderarmos os modos como alimentamos intolerâncias. Mas, sobretudo, ela nos chama a olhar para o presente e para nós mesmos diante do passado e da possibilidade de resistir, como protagonistas.
O DCE da Unicamp organizou uma pré-estreia, dia 12 de março, trazendo alguns docentes e estudantes da Unicamp para debater o filme com a plateia. Veronica Fabrini e Alfredo Suppia, do Instituto de Artes (IA), e eu, Josianne Cerasoli, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), participamos do debate na pré-estreia, coordenado pela estudante de Multimeios Brunna Aprigio.
Para mais dados:
- Documento da Comissão da Verdade de São Paulo Rubens Paiva, sobre a batalha: Revista Veja / Comissão da Verdade – arquivos / Comissão da Verdade/SP
- Entrevista com Hiroto Yoshioka (realizada por dois egressos do doutorado em história da Unicamp, Eduardo Costa e Deborah Neves)
- Vídeo da exposição: Batalha a preservar: Maria Antonia, 55 anos, fotografias de Hiroto Yoshioka (2024), curadoria de dois egressos do doutorado em história da Unicamp, Eduardo Costa e Deborah Neves.
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.