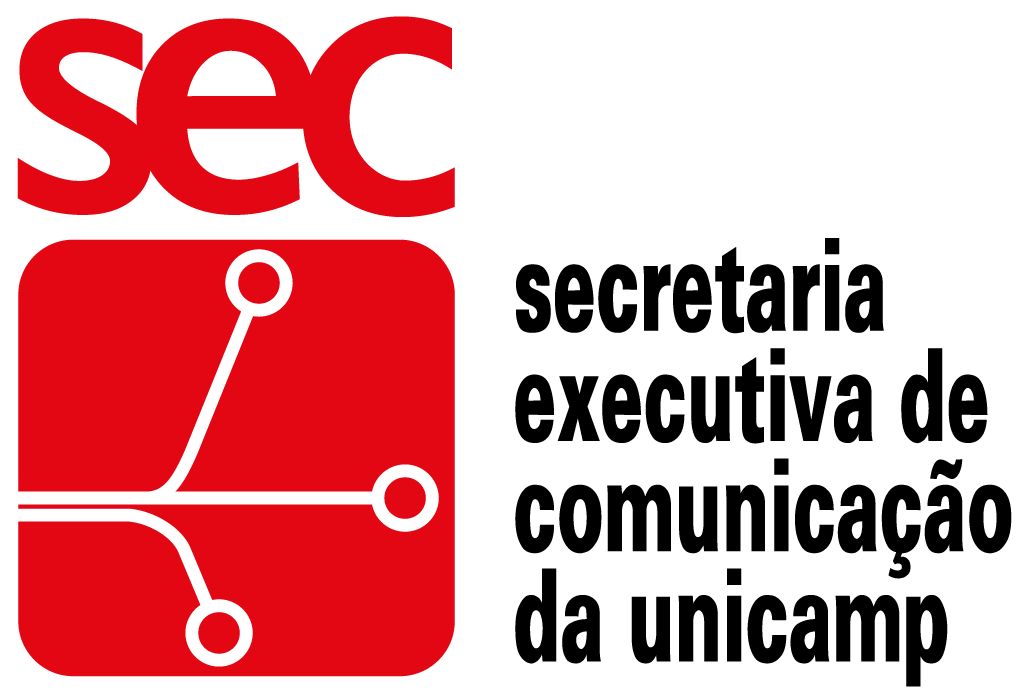Dezenas de blocos pretos de madeira carbonizada dispostos lado a lado no chão. Vislumbramos o fundo de uma gigantesca embarcação. Emerge a conhecida iconografia dos porões dos navios negreiros, onde milhões de africanos e africanas fizeram a travessia do Atlântico amontoados nesses tumbeiros durante séculos de escravidão em plena modernidade.
Foi às margens do rio Tejo, na Praça do Carvão, em Lisboa, em setembro de 2021, que O Barco (The Boat), instalação monumental de Grada Kilomba, foi inaugurado. Segundo a artista e filósofa, era importante estrear a obra em Portugal, país que pratica uma política sistemática de apagamento de seu violento passado colonial e escravista. Qualquer pessoa que já tenha visitado alguma cidade portuguesa pode sentir essa obliteração ao visitar museus e monumentos em espaços públicos que, vergonhosamente, ainda celebram o colonialismo português.
Para Grada Kilomba, é preciso interromper esse funcionamento da história. Interromper sua repetição e sua violência. Por isso, a obra O Barco tem como ponto de partida a Antígona, de Sófocles, e seu gesto ético e político de desobedecer à lei e ao poder para dedicar ao irmão morto um devido rito fúnebre e endereçar-nos a questão: quais corpos podem ser velados, chorados, lembrados, celebrados?
O Barco permanecerá em exposição no Brasil por dois anos no Instituto Inhotim. Ainda não pude visitá-lo, mas assisti a todos os vídeos que encontrei sobre o monumento e que também registraram a performance que o acompanha.
Imagino uma atmosfera asfixiante no galpão do Inhotim, onde a obra foi instalada, talvez semelhante à da sala do Museu Afro Brasil que abriga a réplica de um navio negreiro. A natureza monumental dessas embarcações permite, de maneira dolorosa, alguma aproximação sensível com o horror da catástrofe ancestral da escravidão e do colonialismo, seguindo-se aqui a expressão criada pela antropóloga Elizabeth Povinelli para nos lembrar que as catástrofes por vir são inseparáveis daquelas que permanecem no tempo.
O respiro advém da ancestralidade evocada na memória da diáspora africana, que podemos entrever no monumento de Kilomba ao lermos, nas palavras grafadas em ouro nos blocos pretos do navio, um poema com dezoito versos em seis diferentes línguas: yorubá, crioulo de Cabo Verde, kimbundu, português, inglês e árabe da Síria.
A obra de Kilomba, portanto, não se restringe ao monumento. É poesia e também a performance do grupo Ensemble Lisboa, que reúne um coro de 16 vozes à forte percussão de 4 tambores que marcam o ritmo de um ritual fúnebre entre os blocos carbonizados dispostos no chão.
O estado de presença criado pela recitação do poema – “um barco/um porão/uma carga/uma história/uma peça/uma vida/um corpo/uma pessoa/uma alma/uma memória/um esquecimento/uma ferida…” –, os sons e os corpos em performance permitem a instauração de uma outra temporalidade, criando um modo de se rememorar coletivamente e de se fazer o luto da escravidão.
“Quando não há magia, tu repetes a dor. Quando pegas a tragédia humana e traduzes em imagens visuais, coreografias, em som, em cântico, tu crias uma magia e começas a trabalhar não com o consciente, mas com o inconsciente. Não trabalhas com o fato, mas com o significado. Inconsciente. Entras no imaginário coletivo”, diz Grada Kilomba numa entrevista sobre a obra.
Mas o que seria essa magia de que nos fala a artista? Quem sabe a transfiguração da dor operada pela prática artística, que permite tornar o invisível, visível, criando uma maneira de se dizer o que antes era indizível, de nomear o que era/é inominável, dentre outras possibilidades de se confrontar a catástrofe ancestral que nos constitui.
Escrevo esse texto enquanto participo de um ciclo de palestras sobre a recepção do chamado Afropessimismo no Brasil. Tendo como disparador o livro de mesmo nome de Frank B. Wilderson III, o encontro reuniu intelectuais negres do Brasil que estão em diálogo com o pensamento negro radical de autoras como Hortense J. Spillers, Sylvia Wynter, Denise Ferreira da Silva, Fred Moten e Saidiya Hartman, dentre outres.
Dedicadas à filosofia, à historiografia, à literatura e à música, tais abordagens se caracterizam pela densidade conceitual, por vezes soando herméticas em seu esforço por criar novas sintaxes, gramáticas e léxicos políticos para expressar a complexidade da experiência negra inaugurada na travessia do Atlântico.
De modo geral, da perspectiva dessa tradição negra radical de pensamento, a escravidão configura-se como a mais violenta experiência subjetiva baseada na conversão ontológica dos corpos africanos transmutados, com a escravidão, em carne, coisa, mercadoria, objeto, não-ser-algo, que não é da ordem do humano e, por isso, torna-se passível de ser sequestrado, comercializado, transportado, amontoado, torturado ou mesmo matável de antemão. Nesse sentido, tal como propõe Édouard Glissant logo no início do livro Poéticas da Relação (2021), o navio negreiro torna-se a matriz da mais complexa experiência subjetiva da modernidade: a vida após a morte advinda da escravização.
Além de Glissant, Frantz Fanon também aparece como uma referência importante para esses autories dedicados a pensar as dimensões psíquicas do colonialismo, os modos de subjetivação e de subjugação e a economia libidinal mobilizada pela escravidão. Para elus, o gozo sádico sentido pelo colonizador em seu exercício de poder junto ao colonizado segue se repetindo e reatualizando a escravidão no mundo contemporâneo, onde a violência racial deixa de ser uma exceção ou contingência para se tornar constitutiva do mundo como o conhecemos.
Admitindo essa dimensão subjetiva, psíquica ou inconsciente é que a escravidão será considerada, portanto, como um passado que não passa, que atravessa tempos e espaços, funcionando de maneira indeterminada em seus limites. O Brasil sempre foi contemporâneo de sua escravidão, diz Tales Ab’ Saber, ao refletir sobre essa repetição numa obra recente. Nada mais atual do que a mentalidade escravocrata que se evidencia tanto na mulher branca que chicoteia o entregador negro do Ifood com a guia do cachorro, quanto nas ações de tortura e extermínio praticadas pela Polícia Militar durante a Operação Escudo, condenada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA – dentre inúmeros outros acontecimentos, ordinários e extraordinários, vividos cotidianamente no Brasil.
Observo nas mídias e nas redes sociais a circulação reiterada de imagens desses eventos intoleráveis com o intuito de se fazer a denúncia do racismo e de se expressar indignação. A este respeito, Christina Sharpe, no livro Vestígios: Negridade e Existência (2023), alerta que a circulação de imagens de terror racial pode alimentar a crueldade e o prazer perverso em ver o outro sofrer, encarcerando os corpos negros em imagens de horror:
“Fomos lembradas por [Saidiya] Hartman e por muitas outras pessoas que a repetição das violências visuais, discursivas e estatais, assim como das violências cotidianas e extraordinárias, cruéis e incomuns implementadas contra pessoas negras não leva a um cessar dessas violências nem causa compaixão ou algo parecido com empatia, (…). Essas repetições geralmente funcionam para solidificar e tornar contínuo o projeto colonial de violência.” (Sharpe, 2023, p. 212)
Não foram poucas as acusações feitas a filmes hollywoodianos, como 12 anos de escravidão e Vênus Negra, ou à série da Netflix Olhos que Condenam, de operarem nessa chave. Com o intuito de denunciar o racismo ou a violência da escravidão, imagens de violência racial e de pessoas negras em sofrimento são repetidas à exaustão nas mídias. Lembro aqui de Vinicius Jr., jogador negro do Real Madri e da Seleção Brasileira que, a cada situação de racismo vivida em campo – são muitas –, faz com que vejamos como a violência racial pode funcionar como entretenimento que caminha pari passu com o futebol.
Diante disso, a questão que nos desafia – que desafia os artistas e pensadores que mencionei neste texto – é como podemos ultrapassar essa gramática da dor e do sofrimento. Das artes à historiografia, dos quilombos aos terreiros, seria preciso praticar a atenção aos diferentes modos de existência negra que emergem apesar do racismo e da brutalidade. Trata-se das possibilidades criadas quando se está diante do impossível. Christina Sharpe, dessa vez no livro Algumas notas do dia a dia (2023), fala da necessidade de se ampliarem os registros do que pode ser pensado, imaginado e declarado sobre as vidas negras. Expandir o conhecimento para se escapar do confinamento – do aprisionamento nas imagens de horror e sofrimento, nos estereótipos raciais – e voltar-se para o que pode ser feito além e apesar dele. Trata-se da beleza como método. Para pensá-la, a inspiração de Sharpe advém de um outro tipo de monumento – o magnífico livro de Saidiya Hartman, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos: histórias íntimas de meninas negras desordeiras, mulheres encrenqueiras e queers radicais (2022).
Propondo fabular criticamente os arquivos históricos para encontrar, em suas entrelinhas, as vidas esquecidas de jovens negras subalternizadas na virada do século XX nos Estados Unidos, a ideia que anima o livro, segundo Hartman, é a de que essas jovens negras foram pensadoras radicais que imaginaram outras maneiras de viver, fazendo da vida uma arte, insistindo, apesar de tudo, em criar beleza no cotidiano:
“Beleza não é luxo; ao contrário, é uma forma de criar possibilidade no espaço da clausura, uma arte radical da subsistência, o acolhimento do que é horrível em nós, uma transfiguração do que é dado. É um desejo de adornar, uma tendência ao barroco e ao amor pela abundância.” (Hartman, 2022, p. 53)
É desse modo que Fernanda Silva e Sousa, num fabuloso ensaio premiado pela revista Serrote, lê a obra de Carolina Maria de Jesus, que, em meio à vida precarizada de catadora de papel e no auge do desespero, inicia a escrita de um diário – o livro Quarto de Despejo: diário de uma favelada, publicado em 1960.
Termino este texto com um trecho do romance O avesso da pele (2020), de Jeferson Tenório, livro no qual o clichê literário é a violência racial, tamanha sua repetição na vida de Pedro, o protagonista da narrativa. Ouçamos o conselho de seu pai, Henrique:
“É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos.” (Tenório, 2020, p. 61)
Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.