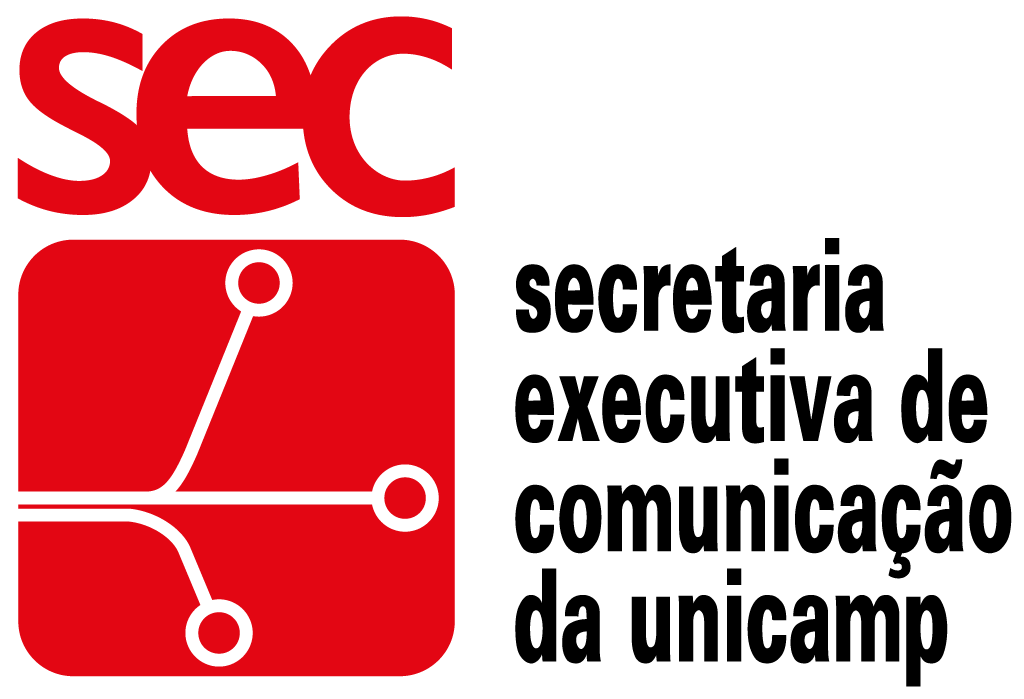Nunca as pessoas serão mais sinceras do que quando assumem sua própria superioridade moral. Thomas Sowell
Parece haver um equívoco no debate sobre as listas de livros exigidos nos vestibulares das universidades públicas. O artigo de Cristianne Lameirinha (“O direito das mulheres à literatura”, Folha de S.Paulo, 18/12/2023) ilustra o cerne da questão. Os dois lados acreditam na importância das listas. Eu mesmo acreditei um dia. Ter atuado durante oito anos na elaboração e correção de provas de Língua Portuguesa e Literatura da Unicamp, e também em ações da Universidade junto a escolas públicas, me permitiu algumas reflexões em sentido contrário.
Os vestibulandos apresentam sérias deficiências de leitura e escrita. Repetem, em suas respostas, fórmulas aprendidas nos colégios e cursinhos. Parafraseiam os enunciados das questões ou os excertos nelas citados, acreditando, com isso, responder ao que foi solicitado. Citam características dos estilos de época para não deixar em branco o espaço da resposta. É raro o candidato desenvolver um raciocínio dedutivo ou indutivo em seus comentários. Uma parte expressiva reproduz elementos de algum resumo lido na web. A caligrafia é, em geral, ilegível, sinal de que o formato dos vestibulares, na era digital, é anacrônico.
Qual a razão desse hiato entre o que a escola diz ensinar e o que a universidade cobra em seus exames? Por que os alunos demonstram em suas respostas a ausência de uma experiência efetiva da literatura? Tentarei indicar algumas hipóteses.
A hegemonia da linguística no ensino de língua portuguesa é evidente. É visível o esforço político e epistemológico da área: basta consultar as bases metodológicas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Ou analisar a ênfase dada à redação escolar a partir dos gêneros textuais e sua hipotética relevância social. Todavia, nas avaliações nacionais e internacionais de leitura, continuamos abaixo dos índices alcançados por alguns países latino-americanos. O saber linguístico, com todo seu arsenal metodológico, não respondeu aos problemas da área de escrita e leitura.
O Programa de Iniciação à Docência (Pibid) e a Residência Pedagógica, fomentados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com capilaridade nacional, prometiam às várias licenciaturas, em especial às de Língua Portuguesa e Matemática, uma espécie de choque de realismo pedagógico em nossos licenciandos, que se traduziria em uma aproximação efetiva entre a escola pública e a universidade, e, ainda, um “discernimento profissional” capaz de propiciar aos egressos uma escolha mais consistente do magistério. Com essa experiência, os jovens graduandos, em parceria com os coordenadores de área das universidades e os supervisores das escolas públicas, encontrariam o caminho para solucionar os entraves relacionados à leitura e escrita.
Tendo participado desses programas, pude observar as baixas expectativas a respeito do potencial da leitura recreativa e performativa dos alunos, a própria experiência frustrada dos professores com o espaço exíguo da leitura no ambiente escolar e, principalmente, as altas expectativas, raramente atingidas, dos gestores em relação à aplicação dos instrumentos pedagógicos na área de Língua Portuguesa. Todos esses aspectos pareciam contrariar o entusiasmo de alunos e docentes com tarefas aparentemente simples, como aquelas pensadas por George Steiner: memorizar um trecho impactante de uma obra literária, criar uma atmosfera de privacidade e abafar o ruído externo de uma sociedade de massas.
No espaço escolar, a literatura estava definitivamente refém do controle pedagógico e linguístico. Sua orientação supostamente crítica não criava adesão entre os alunos, na passagem do ensino fundamental II ao médio. Mas a causa disso não era, em si, a obrigatoriedade da leitura. Era a obrigatoriedade somada a um idealismo moral que entendia a escola como um espaço de redenção social.
Um conjunto de práticas de ensino, estimulado pelas melhores intenções, pressupunha um percurso formativo com base nos princípios da igualdade de gênero, no combate ao preconceito racial e na inclusão das minorias. Um programa “ético-político”, destinado a desenvolver no aluno uma cidadania democrática, que lembrava, nas suas expectativas evangelizadoras, as aulas de Educação Moral e Cívica da década de 1970.
Esse quadro convenceu-me de que o problema das listas reside, na verdade, na subordinação do campo estético ao moral e político, com um viés progressista. Sua raiz parece se localizar nos grupos que lutam por reconhecimento e diversidade nas instituições públicas. A universidade como locus de reflexão não deveria tomar partido, mas expor nossos jovens ao pensamento. Não cabe à universidade mediar a política interna ou externa junto às demais instâncias da sociedade, senão um ceticismo suave a respeito das práticas pedagógicas do mainstream intelectual.
O debate das listas oculta, assim, algo mais grave. O propósito das escolhas disruptivas não é a promoção da diversidade, mas a seleção de alunos que ecoem seus valores com o intuito de formar uma elite culpabilizada e alinhada a essas crenças políticas. O aluno formatado pelas técnicas de aprovação nos vestibulares reproduzirá esse “pensamento crítico” nas respostas e triunfará. O estudante desprovido desses recursos nem entenderá os livros (como já não entendia os canônicos) ou responderá de forma pessoal; mas poderá ficar de fora, pois, mesmo que sua resposta seja pertinente, que apresente operações lógicas compatíveis com o tipo de raciocínio exigido na atividade interpretativa, ela não estará necessariamente alinhada ao valor moral que preside a montagem dessas listas e das questões
O que essa confusão acerca das listas revela de fundamental? Elas são apenas parte de um problema decisivo para as futuras gerações de alunos e docentes. Trata-se da concepção da universidade e do papel das humanidades para as
demais áreas. Está em curso um colapso silencioso do pacto institucional que delimitava os campos de atuação de cada segmento na universidade pública, legitimava a autoridade do magistério e estabelecia ritos litúrgicos para sancionar valores caros à comunidade. Os princípios de excelência, pluralismo crítico e integridade intelectual correm o risco de serem flatus vocis, sem qualquer correspondência com a realidade acadêmica. O risco maior não é uma lista de livros não ser representativa, mas a universidade se enxergar como uma ONG, uma facção política ou uma igreja, dotadas de superioridade moral.
Esse texto é um artigo de opinião e não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.