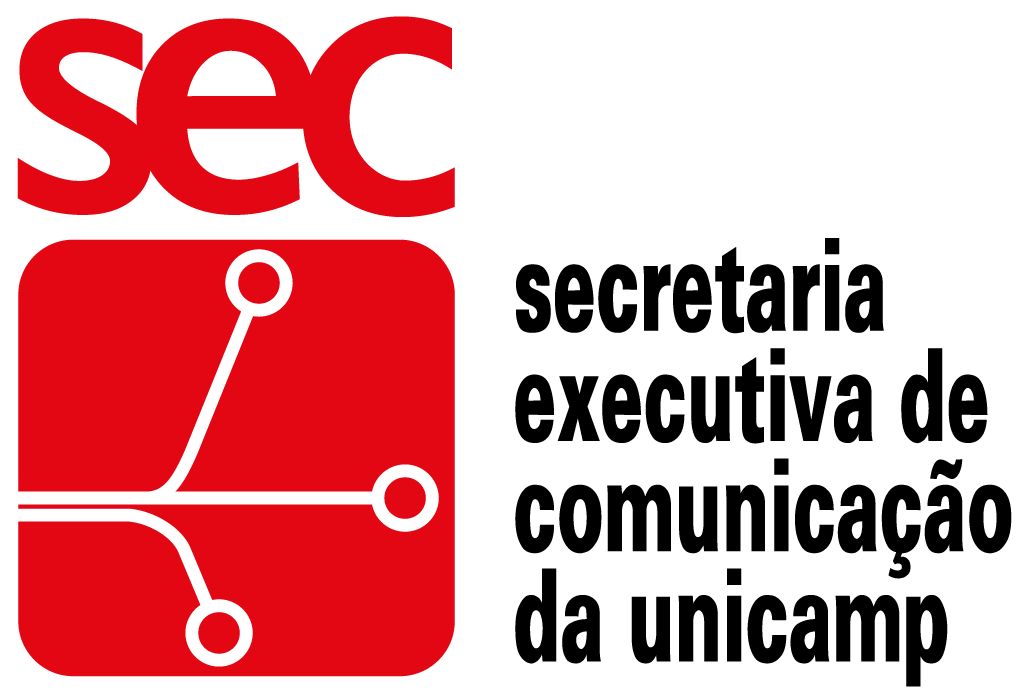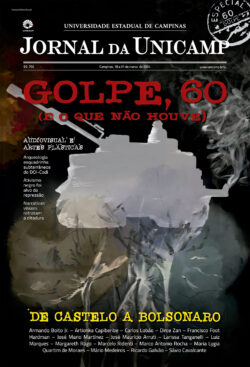Educação
Dirce Zan
Direita ataca avanços e mimetiza políticas educacionais da ditadura
Corte de verbas, controle do pensamento e interferência estrangeira estão entre os pontos comuns
Adriana Vilar de Menezes
As semelhanças entre as políticas educacionais dos mais recentes governos de direita e as da ditadura militar no Brasil saltam aos olhos e não são mera coincidência. Existem pelo menos quatro características similares enumeradas pela professora Dirce Djanira Pacheco e Zan, da Faculdade de Educação (FE) da Unicamp: a tentativa de controle do pensamento crítico, a intenção de formação ideológica, a fragilização do Estado (por meio do corte do investimento público e da abertura de espaço para o setor privado) e a interferência norte-americana.
Desde 2016, quando Michel Temer assumiu a Presidência do país depois do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, teve início a retomada da área de educação a fim de adequá-la aos moldes dos tempos militares e a destruir os avanços promovidos durante os governos progressistas anteriores. “Houve uma tentativa de retomada de um projeto que, de alguma forma, foi interrompido. Isso está na carta do Temer, o projeto Ponte para o Futuro, apelidado de Pinguela para o Passado, porque era mesmo uma pinguela”, afirma Zan. “Tratava-se de um projeto com traços marcantes do período militar e com fortes relações com os militares. O Temer abre as portas para essa retomada.”

Com Jair Bolsonaro, sucessor de Temer, essas diretrizes para a área da educação ganharam ainda mais força. A proposta de retomar o Programa Nacional da Escola Cívico-Militar (Pecim), por exemplo, deixa evidente esse alinhamento com os militares. O Pecim terminou, na esfera nacional, em 2023, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (apoiador de Bolsonaro), quer aplicar a proposta no Estado, alerta a professora.
“O Pecim se pauta muito por um discurso de que elas são escolas muito boas, que colocam os alunos nas melhores universidades e nos melhores colégios técnicos. Mas, quando você vai ver isso nos dados nacionais, em números, é algo que não se sustenta. Não dá para estabelecer essa relação direta”, diz a professora.
Originalmente tínhamos escolas militares para atender somente os filhos de militares. O Pecim passou a ser sugerido para a população em geral antes mesmo dos governos de Bolsonaro e de Temer, em iniciativas pontuais espalhadas pelo país. “Alguns Estados, como Goiás, apoiado em um pensamento predominantemente conservador e reacionário, atrelado ao agronegócio, já queriam adotar o Pecim.” Segundo Zan, houve – e ainda há – uma tentativa de retomada de um projeto herdado da ditadura militar.
Na prática, em programas desse tipo, instalam-se escolas nas periferias dos grandes centros urbanos, “em uma clara tentativa de criminalizar e reprimir a pobreza”. Professores e gestores militares impõem um regime de disciplina rígida para jovens pobres, os quais sofrem, por exemplo, um cerceamento identitário, obrigados que são a exibir um determinado corte de cabelo e a não usar brincos.
MEC-Usaid e a formação ideológica
Referindo-se ainda às semelhanças havidas, no setor educacional, entre o período da ditadura militar e o governo Bolsonaro, Zan lembra da interferência norte-americana. “Tanto no caso do Bolsonaro quanto dos militares, há uma relação muito estreita com os Estados Unidos.” Na década de 1960, a política educacional brasileira pautou-se em grande parte pelos acordos firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, na sigla em inglês), no período de 1964 a 1968 – tratou-se da famosa parceria MEC-Usaid. A organização norte-americana injetou dinheiro e orientou as políticas na área de educação no Brasil.
Toda essa articulação com os interesses internacionais, especialmente com os dos Estados Unidos, transforma-se também em um recurso para coibir ou fragilizar a pesquisa e a produção científica e tecnológica no Brasil “e cada vez mais nos deixar como importadores de tecnologia, como se nós não fôssemos capazes [de andar com as próprias pernas]”, diz Zan.

O acordo MEC-Usaid serviu ainda como instrumento de formação ideológica, intenção que se evidencia na criação de disciplinas do currículo escolar como Educação Moral e Cívica ou Organização Social e Política do Brasil (OSPB). “As disciplinas foram criadas com o intuito de construir um consenso favorável à ditadura militar, a partir de conteúdos didáticos contendo os valores e ideais de país projetados pela ditadura.” Nas universidades, surgiu a disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB).
“Essas coisas, porém, não acontecem de forma mecânica. Muitas vezes os professores faziam um movimento contrário ao conteúdo das disciplinas de OSPB e Educação Moral e Cívica”, pontua a professora.
Pensamento crítico
Durante a ditadura, há inúmeros relatos de professores perseguidos, presos, torturados e sequestrados, da mesma forma como aconteceu com estudantes contrários aos governos militares. A escola, naquele período, era vigiada com o objetivo de cercear qualquer possibilidade de pensamento crítico. A adoção desse sistema de vigilância repetiu-se no governo Bolsonaro, mas de forma diferente.
“Se lá na ditadura havia os militares à paisana como espiões, mais recentemente houve uma tentativa de transformar qualquer criança ou adolescente em um delator. Isso é terrível”, afirma a professora, mencionando o projeto Escola Sem Partido. Nas universidades, instalou-se um clima de apreensão envolvendo até denúncias anônimas, lembra Zan.
Nesse contexto, diz a professora, ficou muito difundida a ideia de que a escola seria um antro de formação moral desvirtuante responsável por gerar crises familiares. “Isso foi muito utilizado pelo governo de direita. Daí surgem esses projetos que levam as famílias a acreditarem que a escola promove a desconstrução de valores, que é uma ameaça aos bons costumes e aos valores familiares. Daí você cria essa ‘neura’ na cabeça das famílias e coloca as crianças para delatar se acontecer qualquer fala nesse sentido. Os professores ficam na mira”, diz a pesquisadora.
Instala-se, assim, um clima de medo nas famílias. “Como mãe, você quer sempre o melhor para os filhos. Então eles [os conservadores] começam a dizer que na escola oferecem kit gay e que os professores vão ensinar seu filho a mudar de sexo. A ‘ideologia de gênero’ surge nesse pacote.”
Escola Sem Partido
Segundo Zan, tanto a ditadura militar quanto o governo Bolsonaro vão olhar para a escola e a universidade como possíveis focos de desordem. “Então há uma tentativa de controlar esses espaços nos quais o pensamento crítico pode ser preservado e difundido.”
O projeto Escola Sem Partido foi elaborado com esse intuito. Ele nasceu como projeto em 2014, mas a articulação em torno dele começou em 2003, a partir de uma iniciativa do advogado brasileiro Miguel Nagib, próximo de setores da extrema direita norte-americana. “A tentativa de cercear as liberdades espraia-se para além do nosso país.” Em 2014, Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, transformou a ideia em projeto de lei em São Paulo. Mais tarde, Carlos Bolsonaro, outro filho do ex-presidente, fez o mesmo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Em todo o país, o Escola Sem Partido começou a ganhar novas versões. “Um vereador de Limeira [SP] apresentou praticamente o mesmo projeto. Eles mudavam um pouco o projeto e apresentavam-no nas câmaras”, diz a professora, que inicialmente achava impossível a sociedade civil aceitar as propostas. “Em especial, o projeto Escola Sem Partido representa uma insanidade. É difícil de acreditar que em pleno século XXI as pessoas iriam cair naquela balela. Daí você consegue identificar que há uma ação articulada, tanto por meio da mídia como na esfera institucional.”
Segundo a professora, vale ressaltar que tudo isso aconteceu logo após uma série de avanços nas políticas educacionais, a partir dos anos 2000, quando os espaços de ensino passaram a reconhecer a necessidade de trabalhar com as diferenças, sejam elas de gênero ou raciais. Portanto, além da sua afinidade com a ideologia dos governos militares, o governo Bolsonaro tentou fazer retroceder os avanços e conquistas mais recentes.
A dimensão financeira
Zan considera também muito significativa outra forma de atuar que se repetiu nos governos militares e nas recentes gestões de direita: o corte de verbas para a educação, fragilizando o Estado e promovendo o desmonte e a abertura dessa área para o setor privado. “Há na direita uma leitura de que universidades e escolas públicas são máquinas que recebem e gastam muito dinheiro”, afirma.
Nos governos militares, houve uma ampliação do alcance da educação básica, “mas de uma forma precarizada”, destaca Zan, dando como exemplo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1967, que criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). “Esse é um sistema criado precariamente, de forma aligeirada, com cursos muito curtos, formação de professores em dois anos e aula por meio de programas de TV. Era uma forma muito instrumental de educação, articulada com agentes do setor privado, como a Rede Globo, que criou o Telecurso, e outras empresas de rádio e comunicação.”
No governo Bolsonaro, aconteceu o “sufocamento da educação pública” a fim de permitir a abertura da área para o setor privado. A Reforma do Ensino Médio, por exemplo, deu ênfase a parcerias com o setor privado. Além disso, a reforma propôs não mais oferecer disciplinas de formação geral como filosofia, ou reduzi-las a um mínimo, e abrir campo para o Ensino à Distância (EAD). “Veio a pandemia e isso caiu como mel, ajudou mais ainda.”
A reforma possibilita também que professores com “notório saber” ministrem as aulas nos cursos de formação técnico-profissional, ou seja, não se exige do profissional formação pedagógica para dar aula no ensino médio. Basta ser supostamente reconhecido pela comunidade como alguém “que entende do assunto”.
“Essa parceria com o setor privado, essa redução do espaço público, esse aligeiramento na formação dos professores na oferta do ensino, isso havia nos governos militares. Trata-se de um outro elemento semelhante que eu destacaria”, observa Zan.
As universidades
Em um primeiro momento, com o avanço do pensamento conservador no Brasil, lembra a professora, os acadêmicos viam com descrédito algumas das propostas da direita para a educação. “Por exemplo, o projeto Escola Sem Partido, quando apareceu, era risível. A gente imaginava: ‘Como é possível?’. Dizíamos: ‘Isso não vai pegar’. Aí você começa a entender existirem camadas na sociedade que vinham sendo trabalhadas para aceitar esse projeto e desejá-lo”, afirma Zan.
“No começo ficamos meio atordoados. Parecia que tínhamos levado uma paulada na cabeça sem saber o que estava acontecendo.” Passado esse momento de desnorteamento, lembra a professora, houve um certo pânico. “Entre o risível e o pânico, voltamos a fazer aquilo que a universidade tem de fazer, que é pensar, racionalizar, investigar e elaborar estratégias. Daí vem a necessidade de articulação.”
Para Zan, é preciso ter coragem institucional e marcar posição para se contrapor às ameaças e defender a educação. “Na Unicamp sabíamos que podíamos contar com a administração central. Sabíamos que, no caso de qualquer tipo de ação cerceadora, teríamos o respaldo da administração. Nesse período tão turbulento, tivemos gestões comprometidas com os princípios democráticos”, afirma a professora.
Durante o governo Bolsonaro, houve várias intervenções em universidades públicas, como a indicação de reitores que não tinham sido escolhidos pela comunidade. Algo semelhante havia ocorrido no regime militar. Zan lembra que, durante a ditadura, a própria Unicamp sofreu intervenção, entre 1981 e 1982. “O reitor interventor na época foi escorraçado pelos estudantes.”

Em 2016, também mobilizados, os estudantes da Unicamp exigiram a aprovação das cotas raciais. “Essa mobilização foi muito importante porque ou aprovavam as cotas naquele momento ou as cotas não seriam aprovadas. E isso porque a direita tentaria fechar e desconstruir o que já havia sido conquistado. Fomos taxados de baderneiros e de fazer balbúrdia nas universidades”, relembra.
Na avaliação de Zan, o que deu força para que escolas e universidades públicas resistissem foi o conhecimento histórico aliado à diversidade característica das universidades hoje. Ou seja, a memória sobre tudo o que o país viveu durante a ditadura militar ajudou a entender e a identificar os cenários ameaçadores.
“Esse conjunto de fatores, o conhecimento histórico e o conhecimento acadêmico sobre essas práticas, o conhecimento da ciência política, nos ajuda a identificar práticas antidemocráticas. E também contribuiu essa experiência de vida mais diversa que hoje a universidade tem. Isso é o que nos fortalece. Temos outro alunado, com outras histórias de vida, com outras experiências, que ajudam a fomentar essa resistência”, acredita a professora. Zan também atribui às instituições democráticas um importante papel na resistência à ditadura e às tentativas de cerceamento da liberdade e dos avanços conquistados na área da educação.
“Houve também outras ações para além da universidade, como nos setores artísticos e culturais e em outros segmentos da sociedade, além dos próprios partidos políticos e seus parlamentares, todos se colocando muito frontalmente na resistência e na oposição ao que estava acontecendo”, acrescenta.
Por outro lado, houve mudanças na sociedade que contribuíram para fortalecer muitos projetos propostos pelo governo Bolsonaro. “Tivemos uma mudança na sociedade, não só quanto à religiosidade, com o avanço dos evangélicos. Tudo isso repercute na escola”, afirma a professora. Na prática, muitos dos espaços de ensino são ocupados hoje por grupos evangélicos organizados, observa Zan. Ao mesmo tempo, grupos feministas ou com outras causas progressistas não dispõem da mesma influência. Dentro das escolas, portanto, se reproduzem os mesmos embates travados na sociedade.
“Se formos olhar para a história da educação brasileira, ela nunca foi laica. Você chega a uma escola pública e vê o crucifixo na parede ou uma Bíblia aberta. Havia uma entrada mais forte da Igreja Católica nas escolas, em razão da nossa história. Hoje há elementos que nos levam a acreditar haver uma aceitação maior da presença da religião evangélica, também entre professores e funcionários.” Essa relação da escola com a religião, diz a pesquisadora, não é uma questão nova. “A própria didática surge com Comenius [1592-1670], um filósofo alinhado aos valores da reforma protestante de Martinho Lutero [1483-1546], segundo a qual a população deveria ser alfabetizada para poder ler a Bíblia sem a intermediação da Igreja.”