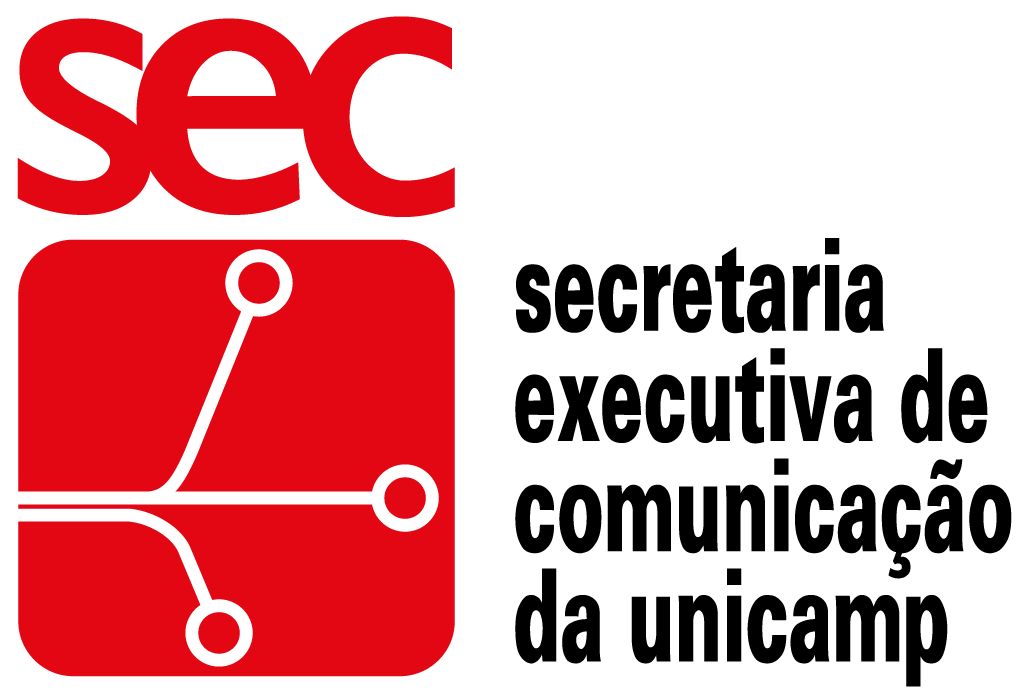O legado destrutivo das hidrelétricas
Projeto de 12 anos analisou efeitos socioeconômicos e ambientais de usinas na Amazônia

“Antes de Belo Monte, vivíamos em um paraíso. Fomos tirados de lá e colocados ao deus-dará”. A frase, carregada de sentimentos, é de Maria Francineide Santos, de 56 anos, ribeirinha de Vitória do Xingu, município próximo a Altamira (PA), região impactada pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A declaração sintetiza o que enfrentam diversas comunidades ribeirinhas do Rio Xingu, sobretudo as que vivem na Volta Grande do Xingu. Na região, o rio foi desviado para atender à usina, resultando em grandes impactos ambientais devido à redução do seu fluxo. “Eu garanto: hoje, no reservatório do Xingu e na Volta Grande, não tem como viver mais da pesca. Não dá mais para tirar do rio a subsistência para manter uma família”, afirma.


Construída a partir de 2011 e inaugurada em 2016, Belo Monte foi propagandeada como obra fundamental para a geração de energia em um período de crescimento econômico acelerado do país. Hoje, sabe-se que, devido à hidrologia do Rio Xingu e ao regime de chuvas da Amazônia, a produção média da usina não chega à metade de sua capacidade instalada de 11.233 MW (megawatts). Segundo a Norte Energia, concessionária que opera Belo Monte, sua geração média é de 4.571 MW. Porém, dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostram que, em meses de seca na Amazônia, essa geração pode ficar abaixo dos 200 MW.
Se Belo Monte gera menos energia que seu potencial, os impactos gerados por sua obra e operação são diversos e afetam a biodiversidade local e a vida das populações de seu entorno. Para mensurar e analisar esses efeitos, um projeto empreendeu pesquisas por mais de dez anos em várias áreas com o objetivo de identificar os impactos das usinas hidrelétricas instaladas na Amazônia. Coordenada por Emilio Moran, professor da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) da Unicamp, a iniciativa teve início em 2013 centrando-se nos impactos de Belo Monte ainda durante sua construção. Em 2020, em uma segunda etapa, o projeto foi expandido para a análise dos impactos das usinas de Jirau e de Santo Antônio, instaladas no Rio Madeira, em Rondônia.
Reunindo 32 pesquisadores de oito universidades e apoiado pelo programa São Paulo Excellence Chair (SPEC), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o projeto “Depois das hidrelétricas: processos sociais e ambientais que ocorrem depois da construção de Belo Monte, Jirau, e Santo Antônio na Amazônia Brasileira” chega ao fim com resultados que englobam os efeitos sobre a atividade pesqueira e sobre a ocupação e o uso da terra e os impactos sociais provocados pelas usinas, além de inovar ao incluir as comunidades locais na avaliação e validação dos resultados e na formulação de medidas compensatórias e de propostas de políticas públicas.

Vidas pela pesca

A história de Moran com a Amazônia teve início em 1972. Na época, o norte-americano investiu em uma pesquisa de doutorado em Antropologia analisando os impactos sociais e ambientais da construção da Rodovia Transamazônica. “A região de Altamira se tornou minha segunda casa”, lembra Moran, justificando sua proximidade com as famílias locais. Ele explica que, já naquela época, a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu estava no radar da expansão das fronteiras de geração elétrica do país, mas as pressões de grupos organizados, sobretudo de movimentos indígenas, conseguiram adiar o projeto. Porém, em 2010, durante o governo de Dilma Rousseff e no contexto de implementação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), as licenças necessárias para a construção foram expedidas e as obras iniciadas. “Pensei: ‘agora preciso voltar para estudar Belo Monte’.”
O primeiro projeto registrou o processo de construção da hidrelétrica e seus efeitos após a inauguração, ocorrida em 2016. Este primeiro ciclo foi encerrado em 2018, quando surgiu a ideia de expandir os estudos para outros contextos semelhantes na Amazônia: as usinas de Santo Antônio e de Jirau, na Bacia do Rio Madeira, próximas a Porto Velho (RO). “Começamos a nos questionar por que ninguém fala dessas usinas, sendo que são mais antigas que Belo Monte e cada uma tem cerca de 3 gigawatts de capacidade instalada de geração de energia”, recorda Moran. No caso, Santo Antônio teve suas obras iniciadas em 2008 e entrou em operação em 2012. Já a usina de Jirau começou a ser construída em 2009 e inaugurada em 2013. Elas têm 3.568 MW e 3.750 MW de capacidade instalada, respectivamente.
Além da avaliação dos impactos sociais causados pelas usinas, os estudos avaliaram como as construções e suas intervenções ambientais afetaram o uso e a cobertura da terra na região e também a atividade pesqueira — esta última vertente inserida no projeto de 2018. Apesar de terem sido organizados em três frentes de atuação, os impactos são interdependentes entre si e têm na pesca um fator aglutinador. “A pesca é um pilar que nos ajuda a entender como as três esferas se interligam. Há uma dimensão social, afinal os pescadores têm sua dinâmica de trabalho e de economia. Há também uma dimensão biológica dos peixes e isso interfere na cobertura da terra”, esmiúça Igor Johansen, professor da Unicamp e coordenador da frente de estudos sobre os impactos sociais.


Os dados obtidos nas pesquisas em relação à pesca confirmam o relato de Maria Francineide no início da reportagem: a atividade se tornou inviável para a maior parte dos ribeirinhos. Isso se deve tanto às mudanças nas comunidades de peixes que vivem nos rios, quanto à dificuldade no acesso dos pescadores à atividade. “De uma forma geral, os pescadores percebem um declínio nas capturas de peixes e no lucro obtido com o comércio”, afirma Caroline Arantes, da Universidade da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, e coordenadora dos estudos sobre a pesca. “Antes das barragens, predominavam espécies de grande porte, com maior valor de mercado. Depois delas, predominam espécies menores, com menor valor”. Ela explica que isso ocorre devido às mudanças nas condições físicas dos rios, prejudicando o ciclo de vida de espécies migratórias, que tendem a atingir maior porte. É o caso de peixes como os bagres, os surubins, as jatuaranas e os tambaquis, que não conseguem acessar áreas de reprodução, e acabam substituídos por branquinhas, sardinhas e curimatãs.
Os reflexos na economia local são profundos. Levantamentos feitos com pescadores na Bacia do Rio Madeira, por exemplo, mostram que 91% deles relataram queda na quantidade de peixes capturados após as construções e cerca de 75% afirmaram que os rendimentos diminuíram. Segundo Arantes, isso exige deles adaptações que os fazem abandonar técnicas tradicionais de pesca e recorrer a instrumentos menos seletivos, como as redes malhadeiras. “Se eles não conseguem capturar a quantidade de peixes que precisam e que estão habituados, mudam de estratégia para capturar o que aparecer.”

No campo e na cidade

A dificuldade de acesso à pesca se reflete no bem-estar das populações ribeirinhas. Um dos estudos, realizado junto a 500 domicílios urbanos em julho de 2022, mostra que 69,7% dos lares convivem com algum tipo de insegurança alimentar, sendo que 52,5% alegaram que o problema já existia antes da pandemia de covid-19. A taxa é maior do que a média nacional daquele ano, avaliada em 57,6%. “Isso não faz sentido. Altamira foi uma das cidades mais impactadas pela construção de Belo Monte e, justamente por isso, recebeu um volume de recursos compensatórios gigantesco para uma cidade de 120 mil habitantes”, pontua Johansen. Segundo as publicações do grupo, os investimentos compensatórios realizados na cidade foram de cerca de R$ 6,5 bilhões. “É o suficiente para garantir qualidade de vida para as pessoas. Onde está esse recurso?”, indaga.
Ao buscarem outras fontes de subsistência, os deslocados se deparam com desafios impostos pelos desequilíbrios ambientais. O cultivo de alimentos nas regiões de várzea dos rios, fertilizadas no período das cheias, foi prejudicado pela mudança no volume de água que chega às regiões. No Rio Madeira, os bancos de areia férteis para cultivo de feijão-caupi, mandioca e melancia, por exemplo, foram reduzidos. Já no Rio Xingu, o cultivo de cacau, antes feito em sistemas agroflorestais, foi convertido à monocultura. Outro impacto foi observado no ciclo de vida da fauna, como é o caso da redução de áreas para a reprodução de quelônios, que ocorria nos bancos de areia. “As principais fontes de renda e de subsistência tornaram-se mais vulneráveis, o que levou a mudança nas formas de vida, como a busca pelo garimpo, o que gera conflitos”, analisa Silvia Mandai, pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) e coordenadora dos estudos sobre uso e cobertura da terra.


A vegetação das regiões também foi prejudicada. De uma forma geral, houve um desmatamento maior nas duas áreas após a construção das usinas devido, principalmente, à especulação fundiária e à redução das áreas de proteção ambiental para que as obras fossem concretizadas. Mandai explica que, para compensar esses efeitos, novas áreas de proteção chegaram a ser criadas, mas suas normas para uso eram mais flexíveis. Ela também aponta que o desmatamento foi maior na bacia do Rio Madeira do que no Rio Xingu. “Há um mosaico de unidades de conservação e de terras indígenas próximas a Belo Monte, formando uma barreira que dificulta a fragmentação ecológica”, explica.
Na área urbana, as hidrelétricas provocaram uma desorganização social. “Não houve um processo endógeno de desenvolvimento econômico sustentável na cidade após a construção de Belo Monte”, relata Johansen. Afastados de suas terras originais, grande parte dos moradores foram transferidos a Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs), bairros planejados como forma de compensação. Além de serem distantes dos rios — alguns a 60 km das margens —, vários não contam com infraestrutura urbana adequada, como abastecimento de água e saneamento básico. A consequência foi o aumento da pobreza e da violência urbana. “Quando os moradores dos RUCs buscam emprego na cidade, eles não revelam nas entrevistas onde moram, porque os RUCs são mal vistos”, lembra o pesquisador.
Uma das consequências mais contraditórias foi o aumento nos custos da eletricidade, já que o preço da infraestrutura de transmissão, que interliga a usina ao ONS e, depois, abastece a região, é rateado nas contas de luz. “Qual a justificativa para uma casa com apenas uma televisão, um ventilador e uma geladeira, pagar cerca de R$ 300 de energia?”. Segundo Johansen, a percepção dos moradores é que eles tiveram que se sacrificar para o benefício do restante do país. “Curiosamente, essa visão passa por todas as classes sociais, desde os que têm mais recursos até os mais pobres.”
E depois?
Os dados obtidos ao longo dos projetos ajudam a responder à questão norteadora de todas as pesquisas: o que fazer após a construção de hidrelétricas na Amazônia? Propostas de ações para mitigar os impactos e as políticas públicas necessárias para as regiões foram elaboradas pelos pesquisadores em conjunto com as comunidades. Em 2024, oficinas foram realizadas em Altamira e em Porto Velho, onde os resultados foram validados com base na experiência e na percepção dos moradores. Foi uma oportunidade muito boa. É algo ainda incomum na ciência, essa postura de retornar os resultados das pesquisas para as comunidades”, reflete Moran.
Segundo o coordenador do projeto, uma conclusão geral é a de que as grandes usinas hidrelétricas, sobretudo na Amazônia, não trazem bons resultados para além da geração de energia — o que, no contexto amazônico, não é tão expressiva —, o que justifica a necessidade de pesquisas e de investimentos em novas fontes de energia. “O Brasil merece um sistema energético diversificado. Em um mundo de mudanças climáticas, depender tanto de hidrelétricas pode ser perigoso devido à redução das chuvas e ao aumento na evaporação da água.”
Para as comunidades ribeirinhas, o trabalho dos pesquisadores fortalece suas lutas. “As universidades são nossas grandes parceiras, nos ajudam a provar os impactos sobre os rios, sobre a terra e sobre a fauna”, comenta Maria Francineide. Desde 2016, ela e outros moradores integram o Conselho Ribeirinho de Altamira, que busca na justiça o direito das famílias de retornarem a seus territórios e ao seu modo de vida. Segundo aponta, hoje a cidade vem se recuperando dos efeitos de Belo Monte, mas ainda há muito o que buscar para que haja compensação justa. “O ribeirinho é o povo mais rico do mundo, vive em um berçário de biodiversidade, têm uma vida digna. Quando perdemos isso, perdemos tudo.”