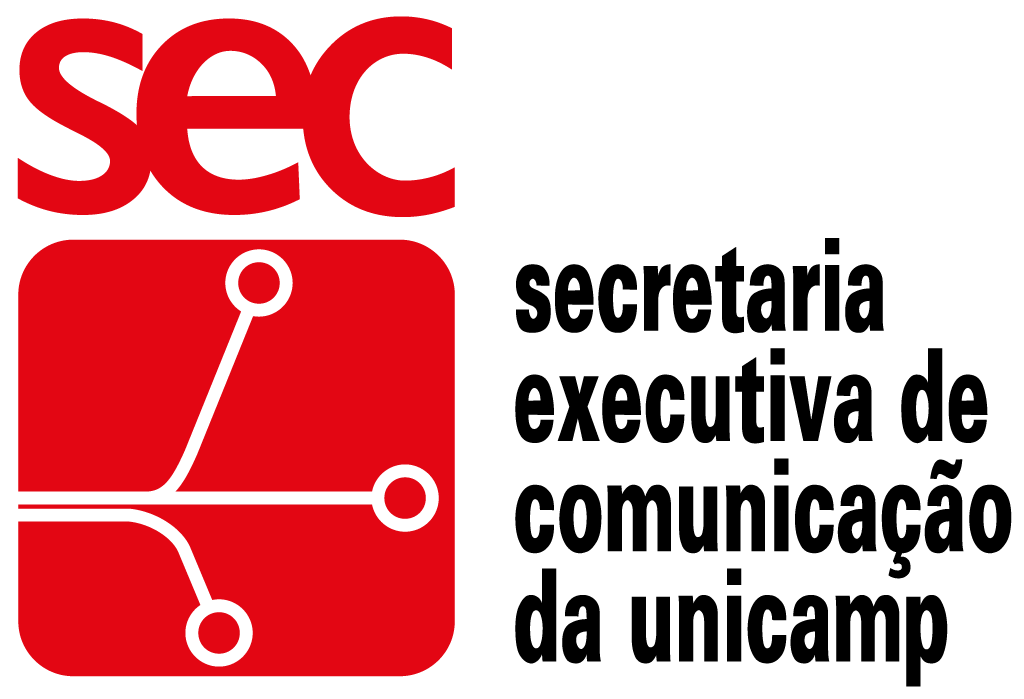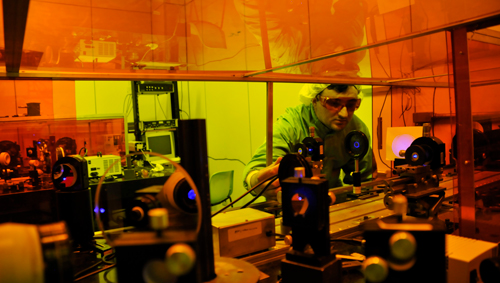A Revolução Industrial é frequentemente retratada como um marco abrupto na história, resultado de avanços tecnológicos e científicos que transformaram profundamente as estruturas econômicas e sociais. No entanto, essa visão pode obscurecer as complexas trajetórias históricas que prepararam o terreno para tal transformação — e embaralhar causas e efeitos. O livro Civilização e Inovação: a Revolução Industrial como um Fenômeno Evolucionário Civilizacional, de Ademar Ribeiro Romeiro (Editora Annablume, 2024), oferece uma leitura instigante e original ao situar a Revolução Industrial como o desfecho de um longo processo evolutivo, enraizado em mudanças culturais, institucionais e tecnológicas que se desenvolveram ao longo de séculos na Europa Ocidental.
Romeiro argumenta que a Revolução Industrial não foi um evento isolado, mas sim o resultado de uma trajetória civilizacional peculiar, que promoveu uma abertura inédita à introdução de inovações. Essa trajetória começou com a consolidação do sistema feudal no século XI e se estendeu até o início do século XIX, período em que ocorreram transformações significativas nas ordens políticas, nas instituições e nas práticas sociais.
A obra destaca como a interação entre inovações culturais, institucionais, organizacionais e tecnológicas criou as condições para uma “explosão” de inovações que impulsionou o crescimento econômico sustentado, característico da Revolução Industrial.
Ao adotar uma perspectiva evolucionária, Romeiro contribui para o debate historiográfico contemporâneo, desafiando interpretações que atribuem o surgimento da modernidade exclusivamente a fatores tecnológicos ou econômicos. Em vez disso, ele enfatiza a importância de compreender as transformações civilizacionais que moldaram a capacidade de inovação e a adaptação das sociedades europeias.
Essa abordagem oferece insights valiosos para refletirmos sobre os dilemas contemporâneos — especialmente no que diz respeito à sustentabilidade, à governança e à relação entre ciência, tecnologia e sociedade.
Esse olhar ampliado sobre a inovação — que vai além da técnica — permite destacar alguns aspectos nem sempre considerados nas análises convencionais. Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que a inovação não é apenas técnica, mas também social e institucional. Quando tratada como um produto exclusivo de laboratórios e fábricas, a ideia de inovação tende a negligenciar o fato de que ela só se materializa quando encontra solo fértil: instituições capazes de absorvê-la, mercados preparados para demandá-la e valores culturais que a legitimem.
A tecnologia, por si só, não muda o mundo — o que o transforma é o rearranjo de normas, práticas sociais e estruturas institucionais.
Além disso, a inovação deve ser compreendida como um processo de longo prazo. Ela não é um ato pontual, mas um movimento cumulativo, resultante de um acúmulo histórico de experiências, aprendizagens, fracassos e reinterpretações. Seu conteúdo está impregnado de cultura, poder e conflito — e, por isso, só pode ser plenamente compreendido à luz do tempo longo da história.
Outro ponto central é que a ruptura frequentemente se alimenta da continuidade. Ao contrário da visão que enxerga a inovação como um corte abrupto, a perspectiva histórica evidencia que grandes transformações, como a Revolução Industrial, foram desdobramentos de tendências que já vinham sendo gestadas. O fortalecimento da ciência moderna, a racionalização da produção, a crença no progresso e o avanço das instituições de mercado não nasceram em um momento específico, mas se consolidaram gradualmente.
Por fim, é indispensável recolocar em evidência o papel do Estado e das elites reformadoras. A emergência da economia industrial não foi espontânea. Foi resultado de decisões políticas, projetos estratégicos e arranjos institucionais promovidos por Estados nacionais, elites reformadoras e grupos sociais ascendentes.
Ao propor uma leitura ampla e contextualizada da inovação, o livro de Romeiro contribui para restaurar essa dimensão, frequentemente obscurecida por narrativas centradas exclusivamente no “espírito empreendedor” ou na genialidade individual.
A qualidade da obra de Ademar Romeiro não se deve apenas à erudição com que é escrita, mas também ao longo percurso intelectual que a sustenta. Resultado de décadas de reflexão, o livro tem suas raízes fincadas na curiosidade do autor pela história, despertada ainda durante seu doutorado na França. Foi nesse período que, em longas e férteis conversas com seu orientador — o economista polonês Ignacy Sachs, figura genial e pioneira do ecodesenvolvimento e do ambientalismo científico —, Romeiro começou a traçar as conexões entre desenvolvimento econômico, mudança institucional e evolução civilizacional.
O resultado é uma obra sólida, que articula interpretações originais com uma bibliografia extensa e sofisticada — como ressaltado durante o seminário de lançamento do livro, no dia 9 de maio, pelo professor Nelson Cantarino, do Instituto de Economia da Unicamp, que destacou o rigor e a densidade teórica das teses apresentadas.
O uso do termo “civilizacional” para qualificar a Revolução Industrial nos obriga a sair de uma leitura limitada à técnica e à economia e nos lança numa discussão sobre os fundamentos da modernidade.
Cabe aqui uma ressalva importante: embora o termo “civilização” seja utilizado no livro em um sentido analítico e descritivo, sem conotação normativa, a reflexão que proponho neste artigo parte intencionalmente de uma leitura normativa — que entende a civilização como um projeto coletivo orientado por valores éticos e políticos. Nesse sentido, a Revolução Industrial foi a consolidação de um projeto de mundo — um novo modo de habitar o tempo, o espaço e as relações sociais.
Esse projeto assentava-se em alguns elementos centrais. O primeiro deles foi a valorização do trabalho produtivo, entendido como a principal via de inserção social e construção de riqueza. A ética do trabalho substituiu a ociosidade aristocrática, estabelecendo a disciplina fabril e a meritocracia como pilares da nova ordem social.
O segundo elemento foi a fé no progresso e na razão instrumental — a crença de que o conhecimento técnico-científico permitiria dominar a natureza e superar os limites impostos à existência humana. Essa racionalidade, embora transformadora, também carregava em si as sementes da alienação e da destruição ambiental.
Um terceiro pilar foi a universalização dos direitos e da cidadania, impulsionada pelos ideais da Revolução Francesa, que introduziu a noção de direitos inalienáveis para todos os seres humanos. Ainda que essa universalização tenha sido incompleta e marcada por contradições, ela estabeleceu o princípio normativo da igualdade jurídica e política como horizonte civilizacional.
Por fim, consolidou-se a ideia de civilização como superação da barbárie — entendida como racionalização, educação e moralização, mas também como colonização e hierarquização cultural. A narrativa da superioridade civilizacional, muitas vezes, justificou a dominação sobre outros povos sob o manto do progresso.
O que é mais provocativo no livro do professor Ademar, no entanto, é que essa leitura do passado nos obriga a refletir sobre o presente — e nos leva à pergunta fundamental: que tipo de civilização estamos construindo com as inovações do século XXI?
Vivemos hoje uma nova revolução — digital, biotecnológica, algorítmica —, cujos impactos já são mais profundos do que agora podemos perceber. E o que inquieta é que essa inovação contemporânea pode ter perdido o conteúdo civilizatório tal como o entendíamos até agora.
O trabalho, outrora eixo da cidadania, do bem-estar e do financiamento dos sistemas de seguridade social, é hoje crescentemente ameaçado pela automação. Milhões enfrentam não apenas o desemprego, mas a obsolescência funcional — e, com ela, a perda de sentido. Como sustentar o tecido social sem o trabalho como referência simbólica e material?
À base de pílulas antidepressivas, do uso crescente de drogas legalizadas e ilegais — do álcool à cocaína, do ansiolítico ao fentanil? E como serão financiados os sistemas de previdência, estruturados sobre contribuições vinculadas à renda do trabalho? A erosão do trabalho é também a erosão de um pacto social ainda não substituído.
A razão técnica, antes esperança de emancipação, tornou-se também fonte de risco. O conhecimento científico e a tecnologia não são mais garantias de progresso — nem de solução para as múltiplas crises que a humanidade enfrenta: da emergência climática e da erosão ambiental à fome e aos fluxos migratórios internacionais. O paradoxo é evidente.
De um lado, nunca a ciência demonstrou tanto seu valor — como na resposta à pandemia, nos avanços da inteligência artificial, das vacinas e das energias renováveis — e, ainda assim, nunca foi tão contestada por parcelas significativas da sociedade.
O negacionismo, o obscurantismo e as teorias conspiratórias proliferam justamente quando mais dependemos do conhecimento técnico para enfrentar os desafios globais.
Por outro lado, há uma segunda camada desse paradoxo: mesmo quando reconhecemos a ciência, ela não basta. As grandes crises do nosso tempo não serão resolvidas apenas com inovações tecnológicas. Elas exigem novos arranjos institucionais, mecanismos de cooperação internacional, formas eficazes de financiamento e, sobretudo, decisões políticas corajosas. A técnica é condição necessária, mas não suficiente. Sem uma orientação civilizatória, mesmo as soluções mais sofisticadas podem fracassar — ou agravar os problemas que pretendem resolver.
A cidadania, antes promessa de universalidade, sofre a corrosão das bolhas digitais e dos algoritmos de segmentação. Os direitos tornam-se fragmentados, o acesso à informação é mediado por interesses opacos, e a política é capturada por lógicas de mercado e performance. O Estado, que no passado foi motor da inovação civilizacional, aparece agora hesitante — ou mesmo capturado.
Diante disso, a lição mais poderosa do livro talvez seja esta: não basta inovar. É preciso recolocar a inovação no horizonte da civilização. Isso implica repolitizar o debate tecnológico, ressignificar o progresso e reconstruir o pacto civilizatório que deu sentido à modernidade. Mas essa repolitização exige cuidado: quando capturada por interesses obscurantistas ou sectários, pode abrir novas brechas para a contestação da própria ciência.
A impressão é que estamos vivendo, hoje, não apenas uma transição difícil, mas um verdadeiro retrocesso do processo civilizatório — não por conta das inovações tecnológicas em si, mas pelas frustrações acumuladas com as promessas feitas ao longo das últimas décadas de crescimento econômico e inovações tecnológicas.
A modernidade nos prometeu que o conhecimento, a ciência, o trabalho e a cidadania nos conduziriam a uma sociedade mais justa, mais livre, mais igualitária. Mas o que muitos enxergam hoje — e não sem razão — é o oposto: desigualdades agravadas, crises ambientais e morais, instituições frágeis e elites desacreditadas. Essa frustração abriu espaço para dois vetores corrosivos.
De um lado, a ascensão de um populismo autoritário, que nega valores fundacionais da modernidade — razão, ciência, tolerância, direitos universais — e opera pelo ressentimento, pelo medo e pela rejeição à pluralidade. De outro, emerge uma pauta identitária legítima, voltada à inclusão de grupos marginalizados, mas que, em parte de suas expressões, ao enfatizar o particular, tensiona o princípio da igualdade universal. O resultado é um esgarçamento do espaço comum, do diálogo, da política mediada — do projeto coletivo.
É nesse contexto que o livro Civilização e Inovação se torna ainda mais necessário. Ao nos lembrar que a inovação pode — e deve — ser parte de um projeto civilizacional amplo, Romeiro nos ajuda a formular uma pergunta urgente: como reconstruir, atualizar e defender o conteúdo civilizatório das transformações sociais e tecnológicas que vivemos?
Esta talvez seja a tarefa intelectual e política mais desafiadora do nosso tempo.
Antônio Márcio Buainain é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Economia Aplicada, Agricultura e Meio Ambiente (Cea/IE/Unicamp) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento (INCT/PPED).