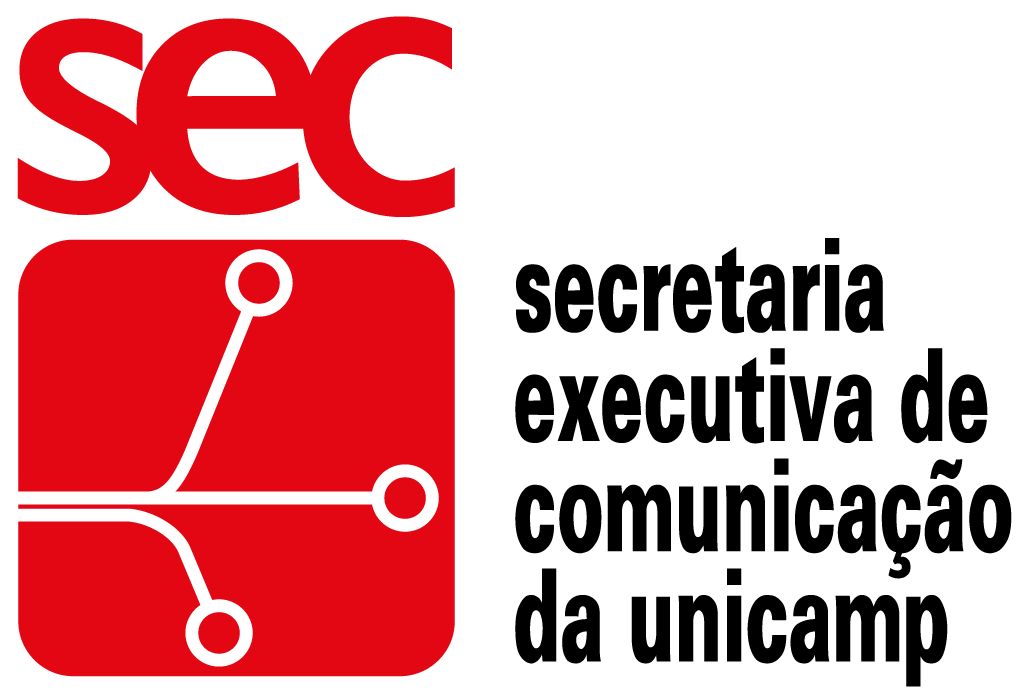Ontologia caiçara sob ameaça
Discurso de proteção ambiental e interesses econômicos unem-se para expulsar comunidades tradicionais do litoral paulista
Ameaças de violência tendo por alvo caiçaras de várias regiões do litoral paulista foram objeto de estudo de duas pesquisas de doutorado, ambas produzidas no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. A socióloga Fernanda Folster conduziu um estudo a respeito do conflito resultante das investidas de forasteiros sobre mais de cem famílias que vivem em comunidades de uma reserva na Baía de Castelhanos, em Ilhabela (litoral norte de São Paulo). Já o antropólogo Rodrigo Ribeiro tratou da violência ambiental a vitimar os moradores de três comunidades tradicionais localizadas no Mosaico de Unidades de Conservação Jureia-Itatins, mais conhecida como Jureia (no litoral sul).
Após acompanhar as comunidades na Jureia, Ribeiro notou o uso de um discurso engessado a respeito da defesa do meio ambiente para justificar a violência promovida contra seus moradores. Folster, por sua vez, investigou as estratégias usadas pelos caiçaras de Castelhanos para preservar seu espaço e os métodos empregados por aqueles que desejam avançar sobre a mesma área. Sob ângulos distintos, as duas pesquisas jogam luz sobre as tensões vivenciadas por famílias cujos lares se tornaram alvo de constantes ataques. E destacam, ainda, a resistência dos povos tradicionais, registrando formas de entender o mundo e de se relacionar com o meio ambiente que podem contribuir para sua preservação.
Conflitos históricos na Jureia
Ribeiro acompanhou o dia a dia dos moradores de comunidades tradicionais das praias do Una, de Grajaúna e do Rio Verde – todas, destaca, áreas de habitação secular na Jureia. Contemplado com uma bolsa de pós-graduação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o antropólogo pôde se instalar em um bairro vizinho às unidades de conservação, de onde conduziu seu trabalho de campo, entre 2018 e 2021. Seu doutorado contou com a orientação do professor Mauro de Almeida, do Centro de Estudos Rurais (Ceres) do IFCH.
Para a produção de sua etnografia, Ribeiro pesquisou documentos oficiais sobre a Jureia do século 19, comprovando a presença de algumas das famílias remanescentes na região já naquele tempo. “Descobri também certidões de nascimento do século 18, ou seja, são famílias que estão lá há centenas de anos. Porém o mais importante foi demonstrar o parentesco das antigas famílias com as atuais. Algumas têm títulos de posse de terra da época do Império.”
Para escrever a tese “A Outra Margem do Rio Verde: Etnografia da violência ambiental no território tradicional caiçara da Jureia”, o pesquisador elaborou um método de coprodução de conhecimentos envolvendo os caiçaras que redundou em fotografias tiradas pelos moradores e membros das comunidades, além da realização, por essas pessoas, de dez contos literários que reproduzem a linguagem local e os sentimentos sobre a realidade que vivenciam. A etnografia deu origem a um mapa da memória e dos conflitos nos territórios, sem contar vários laudos técnicos, que serviram de apoio à defesa de seus direitos legais.




Os conflitos no Mosaico da Jureia-Itatins, que hoje ocupa uma área de mais de 84 mil hectares, tiveram início na década de 1980, coincidindo com a difusão do conceito de proteção do meio ambiente no Brasil e com a implementação de uma legislação que proibia a presença humana no local, conta Ribeiro.
Naquele tempo, 365 famílias viviam na região. De lá para cá, ao menos 12 das 24 comunidades originais desapareceram completamente. Embora desde 2013 todas possuam o direito garantido por lei de habitar seus territórios tradicionais, a violência contra essas famílias persiste. “É difícil de acreditar, porém os próprios órgãos ambientais que demoliram as casas dessas pessoas reconhecem que elas têm o direito, segundo o cadastro de moradores tradicionais, de habitar aquele local”, diz o agora doutor em antropologia.

Violência ambiental
O conceito de violência ambiental foi elaborado por Ribeiro a partir de suas observações e do diálogo travado com os moradores das comunidades da Jureia. Esse conceito diz respeito a um conjunto de práticas e mecanismos de poder usados contra os povos tradicionais valendo-se do discurso da preservação da natureza. Agressões físicas e psicológicas, restrições alimentares e de mobilidade e a remoção de famílias de seus lares sem qualquer plano de remanejamento – tampouco de compensação – são exemplos da forma mais explícita de violência ambiental documentada pelo pesquisador.
Para inviabilizar a permanência dos caiçaras em seus territórios, outros tipos de violência ocorreram, conta Ribeiro. Escolas e postos de saúde das comunidades acabaram fechados por agentes do governo, que também começaram a proibir ou restringir a pesca, a caça e a agricultura. Mesmo festas e práticas espirituais passaram a ser reprimidas. “Como dizem os próprios caiçaras, a violência implica uma expulsão por cansaço”, relata.
A justificativa por trás da violência ambiental, de acordo com o antropólogo, tem sua origem em um argumento impregnado na sociedade segundo o qual, para preservar a natureza de um lugar, faz-se necessário isolá-lo da presença humana. Em sua pesquisa, Ribeiro detectou uma espécie de consenso, entre diferentes setores da sociedade, sobre a necessidade de remoção dessas populações caiçaras, algo baseado justamente nesse discurso. “Há setores da esquerda defendendo que tirar as pessoas desses lugares é essencial para a sobrevivência de todos. Já a direita vê no isolamento do meio novas possibilidades para a expansão capitalista.”
Na opinião do antropólogo, essa visão ignora uma série de estudos científicos recentes, os quais atestam a importância das comunidades tradicionais para ajudar a conservar os locais onde vivem – graças a seu estilo de vida sustentável. Seu trabalho confirma essa hipótese, pois proteger as áreas de moradia revela-se uma prioridade para as famílias caiçaras. “O alvo da contestação caiçara é a maneira como as políticas ambientais são aplicadas – envolvendo, precisamente, formas de violência.”
Após décadas de conflitos e tensões, o conceito de meio ambiente passou a ter um novo significado para os caiçaras da Jureia, revela Ribeiro. Um sentido negativo, relacionado com as agressões cometidas pelo Estado, a falta de diálogo com as organizações não governamentais e o apagamento dos conhecimentos tradicionais por setores da academia. “Há uma produção científica que apaga essas pessoas e os seus conhecimentos, apesar da importância dos caiçaras para tornar possível muitos estudos.” Mais do que não reconhecer o valor dos seus saberes, muitas dessas produções acadêmicas acabam servindo, indiretamente, como vocabulário para os argumentos de instituições contrárias às comunidades, alerta o pesquisador.
Ribeiro defende a necessidade de se buscar um outro caminho para a conservação do planeta. Na visão do pesquisador, é preciso compreender e proteger formas de vida que possam oferecer outro modelo de relação com a natureza, em oposição ao reconhecidamente predatório. Nesse sentido, argumenta, o modo de viver das comunidades caiçaras representa uma contribuição importante.
“Ao remover todos de um lugar, destrói-se justamente aquela forma de vida que, acredito, é a única saída que temos hoje. Afinal, não adianta proteger a natureza criando grandes massas de pessoas que, após serem expulsas pela violência ambiental, vão parar nas periferias das grandes cidades, onde se juntarão aos refugiados das crises climáticas. O fundamental é compreender que a importância inegável da conservação da natureza torna essa violência socialmente legítima e ocultável.”

Contornos de uma guerra em Ilhabela
Protegida pela Mata Atlântica e pelo oceano, a Baía de Castelhanos já abrigou centenas de famílias caiçaras. Hoje, restam seis comunidades, que possuem parte de sua área demarcada pela Reserva Extrativista da Baía de Castelhanos – a qual, junto com o Parque Estadual de Ilhabela, compõe um mosaico de áreas protegidas.
Na tese de doutorado “A Guerra Ontológica e Contracolonial pelos Territórios Tradicionais Caiçaras: Um estudo da baía de Castelhanos (Ilhabela/SP)”, Folster analisa a disputa territorial entre esse povo tradicional e as pessoas vindas de fora, que se tornaram proprietárias de terrenos em um espaço de preservação. Seu trabalho explora a relação entre a atuação do poder político municipal e a consolidação da propriedade privada no território, além de levantar indícios de grilagem, com base na investigação de documentos oficiais.
A pesquisa se deu sob a orientação da professora do IFCH Mariana Chaguri – também coordenadora do Ceres – e teve como foco principal as estratégias adotadas pelos dois lados para reivindicar direitos sobre a terra. Para entender como se davam as práticas, as narrativas e o entendimento sobre o território dessas comunidades, Folster empreendeu um vasto trabalho de campo. Entrevistou tanto caiçaras como aqueles que denominou proprietários privados, além de participar dos espaços políticos onde atuavam – tais como o Conselho Municipal de Comunidades Tradicionais de Ilhabela e o Conselho Consultivo do Parque Estadual de Ilhabela.
A socióloga percorreu a história das propriedades, isto é, sua cadeia dominial. Ao investigar documentos de compra e venda, a doutora em sociologia encontrou situações diversas: desde registros de famílias analfabetas que teriam cedido o direito sobre suas terras até a ausência de matrículas, escrituras e destacamentos. “No Brasil, toda propriedade privada tem origem no patrimônio público, porque, desde 1822, o que existe aqui é terra devoluta, do Estado. Então, para criar uma propriedade privada, é preciso fazer o seu destacamento do patrimônio do Estado. Em nenhum documento pesquisado havia esse destacamento”, conta.
A Baía de Castelhanos permaneceu praticamente desconhecida dos forasteiros até 1977, quando se inaugurou a estrada conectando essa área à região central de Ilhabela. Antes disso, o acesso ao local dava-se por mar ou por trilhas no meio da mata fechada. A criação do Parque Estadual de Ilhabela pela ditadura cívico-militar, na mesma década, contribuiu para o relativo isolamento da área. Tamanha era a dificuldade de acesso que se desenvolveu ali um modo de vida autônomo. Em seu trabalho de campo, a socióloga notou que essa forma de viver constitui uma ontologia particular, isto é, uma maneira de se colocar no mundo, de existir e de enxergar a realidade diferente daquela adotada pelo restante da sociedade.
Ao longo dessas quatro décadas, os proprietários privados acabaram se aproximando dos moradores das comunidades. Muitos caiçaras trabalham como garçons em seus restaurantes ou, em suas casas, como empregados domésticos. “Alguns proprietários se tornaram padrinhos de seus filhos. Há um apadrinhamento. Como é comum no Brasil, são constituídas relações que dificultam o aparecimento do conflito. Assim, há uma tendência à acomodação.”
Somente em 2005 as comunidades caiçaras criaram sua primeira associação. Seu esforço para manter o território inclui, ainda, diálogos com o Ministério Público Federal e com o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Já os proprietários privados mantêm-se próximos dos políticos locais e das instâncias de poder municipal. E mobilizam, também, os laços pessoais que construíram com os caiçaras para evitar a emergência de conflitos.
Território sob disputa
Embora a disputa pelo espaço tenha se intensificado nos anos 1990, Folster encontrou diferentes indícios apontando o avanço da grilagem, principalmente desde a década de 1970. Justamente quando nasceu o parque de conservação. “É quando os documentos vão se tornando mais estruturados.” Após realizar pesquisas no Arquivo Público Nacional, a socióloga notou que muitos dos imóveis privados pertencem a membros de famílias tradicionalmente ligadas à política municipal. “Existe até hoje em Ilhabela uma ligação muito grande entre quem é proprietário de imóvel na Baía de Castelhanos e as pessoas que ocupam cargos na prefeitura municipal. Trata-se de um jogo envolvendo poucas famílias. Há uma consolidação da propriedade privada e a ocupação de cargos no poder.”
Ao consultar a documentação sobre as propriedades privadas, a pesquisadora identificou problemas em todos os casos. Seja ao relacionar os proprietários anteriores de um imóvel, seja nas informações contidas em sua inscrição (para aumentar suas dimensões, por exemplo). Mesmo durante seu trabalho de campo nas comunidades, a socióloga presenciou o avanço de cercas sobre os territórios tradicionais praticamente da noite para o dia, indicando que a grilagem continua ocorrendo mesmo nos dias atuais.
Os indícios científicos de habitação humana na baía remontam ao período colonial, segundo o levantamento bibliográfico feito por Folster. As comunidades remanescentes ainda mantêm o costume do uso comum de seus territórios, inclusive das áreas de roçado e de pesca marítima. Esses agrupamentos organizam-se a partir de acordos que firmam entre si, a partir do respeito à necessidade de cada um em cada momento. O acesso ao espaço, portanto, é dado pelo uso: tem prioridade quem vai utilizá-lo. “Essa é a efetividade do uso. Por exemplo, para alguns tipos de pesca, não existe o lugar de cada um colocar a sua rede no mar. Quem chegar primeiro põe sua rede onde quiser e quem chegar depois vai para outro lugar. A mesma coisa vale em relação às roças – ainda que haja um respeito, caso alguma família tenha utilizado aquele espaço em anos anteriores.”
A pesquisadora explica que, para esses caiçaras, a concepção de transformar o território da pesca, da roça e da caça em propriedade privada não faz parte da história caiçara. “Isso não quer dizer que não haja usos individuais e familiares do espaço. Existem as casas, mas não há cercas entre uma e outra. As crianças, no período em que não estão na escola, ficam transitando entre as casas”, conta. A intenção de mercantilizar terrenos, assim como de construir obras e melhorias para tornar a área mais valorizada – do ponto de vista financeiro – faz parte de uma lógica que se opõe à visão dos caiçaras.
“Ter um ordenamento abstrato, mediado por instrumentos jurídico-cartoriais, que determine a propriedade da terra transformando-a em um recurso a ser comercializado é algo que não passa pelo modo de eles entenderem o território. Isso tem a ver com a história da colonização no Brasil. Por isso, trata-se de uma guerra ontológica contracolonial, embora não haja mortes.”
O fim do território coletivo decretaria o desaparecimento de uma concepção específica sobre a roça e a pesca e de expressões artísticas e culturais únicas. “Se um território acaba, se tudo se torna propriedade privada, acaba essa ontologia caiçara. A criação de propriedades individuais significa o fim de um modo de entender o território que é muito diferente da maneira como nós, que não fazemos parte dessas comunidades, entendemos. Portanto, anticolonial.”