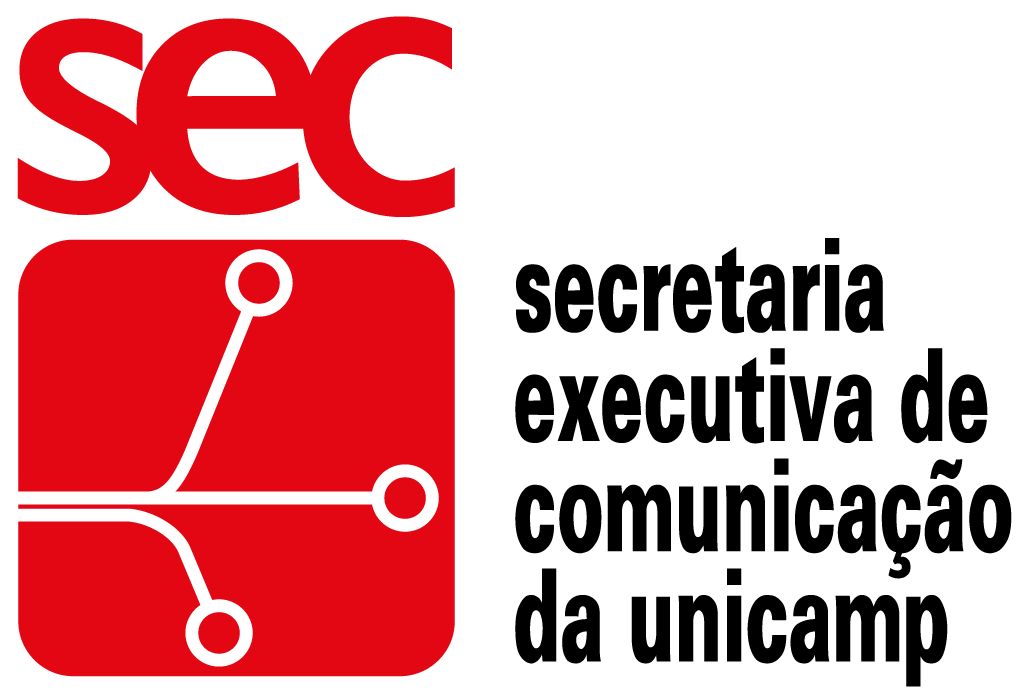A farsa como método
Antropólogo investiga a institucionalização da tortura a partir da execução de militantes judeus pela ditadura militar

Forjar suicídios para encobrir assassinatos políticos foi uma prática recorrente da ditadura cívico-militar instaurada no Brasil com o golpe de 1964. Impactadas por suas perdas, as famílias das vítimas que supostamente tiravam a própria vida ainda se viam pressionadas a fazer parte de uma farsa, afinal, os sinais de tortura presentes nos corpos não deixavam dúvidas sobre a real causa da morte. Na tese “De Zweig a Herzog: Sobre a violência do estado, o suicídio e a religião”, defendida no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, o antropólogo David Reichhardt investiga homicídios cometidos por militares durante o regime de exceção, à luz das tradições judaicas que envolvem o sepultamento.
O estudo, que discute a tortura como método de atuação do aparato repressivo, integrou a linha de pesquisa Patrimônio e Memória do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do IFCH e contou com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Sob a orientação do professor do instituto Omar Ribeiro Thomaz, Reichhardt examinou os assassinatos dos judeus Vladimir Herzog, Chael Charles Schreier, Ana Maria Nacinovic, Ana Rosa Kucinski e Iara Iavelberg, cometidos por militares entre 1969 e 1975. O antropólogo ainda incluiu em sua investigação o suicídio (real) do intelectual austríaco Stefan Zweig, também de origem judaica.
Seu trabalho combinou etnografia de evento e antropologia comparada, compreendendo consultas aos documentos dos arquivos do Acervo do Estado de São Paulo e entrevistas com familiares, autoridades judaicas e membros da comunidade, tais como o rabino Henry Sobel, Clarice Herzog, Ivo Herzog, mulher e filho de Vladimir Herzog, respectivamente, e Samuel Iavelberg, irmão de Iara Iavelberg. Reichhardt ainda fez uma parte da pesquisa em Buenos Aires (Argentina), em busca de indícios de casos similares praticados pela ditadura de lá.

O antropólogo elegeu como foco as histórias de judeus vitimados pelo regime de exceção após constatar a escassez de estudos acadêmicos com esse recorte. No entanto afirma que o propósito da tese é discutir a institucionalização da tortura pelo Estado. “Fiz um trabalho de base para subsidiar futuras pesquisas. Inclusive sobre o que houve desde o golpe de 2016”, pontua. Dois aspectos centrais o levaram a adotar as tradições judaicas sobre a morte – e mais especificamente o suicídio – como perspectiva. Segundo o judaísmo, quando uma pessoa morre, seu corpo deve ser lavado e purificado para poder ser sepultado. Ao dar banho no corpo da vítima, seus familiares detectavam evidências de violência e tortura e, dessa forma, constatavam a farsa armada pelo governo.
Já a imposição de que o sepultamento fosse feito de acordo com antigos ritos hebraicos reservados ao suicídio criava um impasse. “Segundo Sobel, os judeus não queriam chamar a atenção da ditadura, mas essas regras os colocaram inevitavelmente no olho do furacão”, diz Reichhardt. Tradicionalmente, e partindo do princípio de que a vida é o maior bem que uma pessoa pode receber, a religião judaica considerava o suicídio um crime, e quem se matava deveria ser sepultado, no cemitério, em uma ala exclusiva para suicidas. Até mesmo o preparo do corpo obedecia a regras próprias.
A visão tradicional caiu por terra por volta dos anos 1940, conforme explica o professor do IFCH. “Com a Segunda Guerra e o Holocausto, rabinos do mundo todo decidiram que a questão do suicídio, do ponto de vista religioso, estava pacificada devido ao confinamento em campos de concentração, à perseguição política e a outras formas de submissão e violência”, diz o antropólogo.

Para atestar que essas regras tinham sido superadas também na comunidade judaica do Brasil, Reichhardt pesquisou a morte de Zweig, intelectual judeu que se mudou para o país nos anos 1930 e que se suicidou em 1942. “Nem os liberais, nem os ortodoxos, nem o governo queriam enterrá-lo como suicida. Pelo contrário, ele foi enterrado com honras públicas. Lideranças e personalidades, como Gabriela Mistral, Nobel de Literatura e muito amiga dele, falaram [no velório]. Portanto, essa ideia do suicídio como um grande problema para os judeus não existia mais: foi uma reinvenção da ditadura brasileira”, afirma o orientador da tese.
De modo geral, ainda que o Brasil vivesse em um regime marcado por censura, tortura e desrespeito aos direitos civis, homicídios cometidos por agentes militares, quando descobertos, arranhavam a imagem do governo. Nesse sentido, o suicídio forjado tornou-se parte de uma política de sistematização da violência. “Documentos da agência de inteligência norte-americana, a CIA, divulgados recentemente confirmaram o conhecimento de Ernesto Geisel [um dos militares a comandar a ditadura] sobre tudo o que se passou. Isso desmontou o argumento de que havia uma ala do Exército ultrarradical”, analisa Reichhardt.
O caso de Schreier, morto em 1969, inaugurou o debate sobre o tema. O antropólogo relata que tanto a família do militante como o hospital se negaram a confirmar seu suicídio, tantas eram as marcas de violência. “O Exército se atrapalhou. Os relatos dos familiares, que viram seu corpo torturado antes do enterro, foram publicados na capa da revista Veja. Isso foi bater no presidente da República, e ele não foi enterrado como suicida”, diz o pesquisador, revelando que, naquele ano, o Estado havia iniciado sua ofensiva brutal contra os grupos armados, desenvolvendo as principais estratégias institucionais de tortura.
Desde então, os militares passaram a tomar mais cuidado para que não estourasse nenhum outro caso evidente de homicídio e, consequentemente, os corpos de judeus começaram a desaparecer – os corpos que não desapareciam eram enterrados como suicidas, afirma o pesquisador. O assassinato de Nacinovic, morta à luz do dia, no meio da rua, representou uma exceção.
“A morte de Iavelberg foi testemunhada indiretamente, porém seu corpo ficou no Instituto Médico Legal [IML] por cerca de um mês e só apareceu para atrair seu namorado, [Carlos] Lamarca. De acordo com a antiga lei judaica, ela nunca seria considerada uma suicida – caso tivesse se matado – por estar em uma situação de pressão.” Mesmo assim, foi enterrada como tal. O desaparecimento do corpo de Kucinski foi confirmado pelo ex-delegado Claudio Guerra, condenado em 2023.
Após a morte de Herzog, enquanto a família insistia para que seu corpo não fosse enterrado na ala dos suicidas (reativada em 1971, com o caso Iavelberg), os militares e o cemitério articulavam o contrário. “No fim, Vlado foi sepultado na ala dos suicidas. Porém Sobel contrariou a sinagoga e o diretor do cemitério e garantiu que fossem seguidas todas as tradições de um sepultamento normal e honrado. Conforme pude constatar na minha pesquisa, o que vale para o judaísmo é a forma como o corpo é enterrado, não o local. Portanto, Vlado não foi enterrado como suicida”, disse Reichhardt. Para o governo, a instituição sustentou a versão contrária. Coube ao Sindicato dos Jornalistas e à família desmontar a farsa. “O diretor do cemitério ameaçou Clarice [Herzog, mulher de Vlado] com uma carteira do Dops [Departamento de Ordem Política e Social]. Ficaram uma impressão muito ruim sobre a sinagoga e a ideia de que ela estava envolvida.”
Reichhardt ainda viajou para Buenos Aires em busca de indícios de casos de judeus assassinados pela ditadura de lá, a fim de compará-los com os métodos de atuação do regime brasileiro. No entanto nada encontrou. “Enquanto aqui os militares torturaram e mataram, lá desapareceram com as pessoas: não havia corpos. Aqui o governo os devolveu para a sociedade, de uma forma extremamente aterrorizante. Houve uma exploração do tabu do suicídio para humilhar o morto, a sua memória”, conclui o antropólogo.